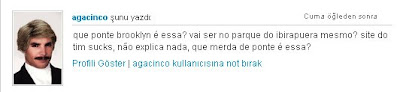quarta-feira, outubro 29, 2008
Postado por Fábio Andrade às 3:37 AM
terça-feira, outubro 28, 2008
Postado por Fábio Andrade às 4:55 AM
Top 5 (mas meio manco) da semana
Filmes
Em semana um bocado lenta, apenas quatro filmes vistos.
1- O Império do Crime (The Big Combo)
de Joseph H. Lewis (EUA, 1955) – 9/10 Clássico do noir de Joseph H. Lewis, hoje um tanto raro em DVD, The Big Combo sempre foi digno de antologias pelo primoroso chiaroscuro da fotografia de John Alton. O que poucos falaram é que o brilhantismo real do trabalho do fotógrafo divide visualmente o mundo em blocos de brancos e negros para, ao fundo, confundir o espectador diante da ambiguidade absoluta do roteiro de Philip Yordan. São personagens mergulhados, todos, em um mar de tons de cinza. Com a onipresença dos múltiplos sentidos (pois duplo é pouco) conviventes, The Big Combo equilibra o crime e a lei em uma linha fina e móvel de agressiva sexualidade. O que, talvez, o coloque como um dos exemplos mais acabados – ideologicamente, sem dúvida – da fatia do cinema norte-americano conhecida como noir.
Clássico do noir de Joseph H. Lewis, hoje um tanto raro em DVD, The Big Combo sempre foi digno de antologias pelo primoroso chiaroscuro da fotografia de John Alton. O que poucos falaram é que o brilhantismo real do trabalho do fotógrafo divide visualmente o mundo em blocos de brancos e negros para, ao fundo, confundir o espectador diante da ambiguidade absoluta do roteiro de Philip Yordan. São personagens mergulhados, todos, em um mar de tons de cinza. Com a onipresença dos múltiplos sentidos (pois duplo é pouco) conviventes, The Big Combo equilibra o crime e a lei em uma linha fina e móvel de agressiva sexualidade. O que, talvez, o coloque como um dos exemplos mais acabados – ideologicamente, sem dúvida – da fatia do cinema norte-americano conhecida como noir.
2- O Profundo Desejo dos Deuses (Kamigami no Fukaki Yokubo)
de Shohei Imamura (Japão, 1968) – 8/10 Filme tão épico quanto irregular, O Profundo Desejo dos Deuses é, como grande parte das obras das décadas de 1960 e 1970, movido pela vontade de resumir toda a história de um país. Pois, basicamente, o que faz Imamura é recontar a história do Japão (o filme se passa em uma ilha) reencenando o mito de Amaterasu, deusa do sol (imagem que, salvo engano, abre e encerra o filme) – com direito até à dança erótica distrativa de Uzume (Toriko, interpretada por Hideko Okiyama) – respondendo à chegada da industrialização e à destruição aparente dos mitos e crenças. Nesse desfile de ícones japoneses – dos deuses ao benshi, narrador que reconta a história local para as novas gerações – Imamura volta às suas mais básicas questões: a quase indistinção entre homens e animais, seja pelo espelhamento ou pela convivência em um mesmo espaço. Pelo domínio absoluto da composição visual e da mise-en-scène, Imamura é capaz de resumir complexas questões narrativas em um único plano, uma única fala, um único movimento. Meu momento favorito é o plano em que o engenheiro observa um crustáceo trocar de concha, enquanto ele próprio troca seu passado na cidade, por um presente na ilha.
Filme tão épico quanto irregular, O Profundo Desejo dos Deuses é, como grande parte das obras das décadas de 1960 e 1970, movido pela vontade de resumir toda a história de um país. Pois, basicamente, o que faz Imamura é recontar a história do Japão (o filme se passa em uma ilha) reencenando o mito de Amaterasu, deusa do sol (imagem que, salvo engano, abre e encerra o filme) – com direito até à dança erótica distrativa de Uzume (Toriko, interpretada por Hideko Okiyama) – respondendo à chegada da industrialização e à destruição aparente dos mitos e crenças. Nesse desfile de ícones japoneses – dos deuses ao benshi, narrador que reconta a história local para as novas gerações – Imamura volta às suas mais básicas questões: a quase indistinção entre homens e animais, seja pelo espelhamento ou pela convivência em um mesmo espaço. Pelo domínio absoluto da composição visual e da mise-en-scène, Imamura é capaz de resumir complexas questões narrativas em um único plano, uma única fala, um único movimento. Meu momento favorito é o plano em que o engenheiro observa um crustáceo trocar de concha, enquanto ele próprio troca seu passado na cidade, por um presente na ilha.
3- PTU (idem)
de Johnny To (Hong Kong, 2003) – 8/10 Na revisão, PTU se firma como um dos filmes a melhor condensar a relação de Johnny To com o gênero policial. Basicamente por dar conta, em pouco mais de 80 minutos, do amplo arco rítmico que marcaria a impressionante trilogia de Eleição: da construção climática dos cuidadosos tempos esticados (Eleição) ao descarrilamento coreográfico absoluto (Exilados), sempre conduzido com a inabalável firmeza das mãos de Johnny To. Além disso, o filme parece ser quase uma refilmagem em negativo de Warriors, de Walter Hill.
Na revisão, PTU se firma como um dos filmes a melhor condensar a relação de Johnny To com o gênero policial. Basicamente por dar conta, em pouco mais de 80 minutos, do amplo arco rítmico que marcaria a impressionante trilogia de Eleição: da construção climática dos cuidadosos tempos esticados (Eleição) ao descarrilamento coreográfico absoluto (Exilados), sempre conduzido com a inabalável firmeza das mãos de Johnny To. Além disso, o filme parece ser quase uma refilmagem em negativo de Warriors, de Walter Hill.
4- A Luta Solitária (Shizukanaru ketto)
de Akira Kurosawa (Japão, 1949) – 7/10 Kurosawa raramente me arrebata como Ozu ou Mizoguchi – os outros bastiões mais reconhecíveis do cinema clássico japonês – mas, a bem dizer, até mesmo filmes menores como esse me embalam pela precisão de sua carpintaria cinematográfica. Como maior exemplo, as transições com as grades vistas pela janela - imagem tão graficamente interessante quanto narrativamente significativa. Interessante ver como, apesar de ainda fundado sobre um certo moralismo, A Luta Solitária já deixa antever a ruína das certezas que se daria no ano seguinte, com a obra-prima Rashomon.
Kurosawa raramente me arrebata como Ozu ou Mizoguchi – os outros bastiões mais reconhecíveis do cinema clássico japonês – mas, a bem dizer, até mesmo filmes menores como esse me embalam pela precisão de sua carpintaria cinematográfica. Como maior exemplo, as transições com as grades vistas pela janela - imagem tão graficamente interessante quanto narrativamente significativa. Interessante ver como, apesar de ainda fundado sobre um certo moralismo, A Luta Solitária já deixa antever a ruína das certezas que se daria no ano seguinte, com a obra-prima Rashomon.
Canções
1 – “Apartment Story”
National (Boxer, 2007) Todo grande show me guarda alguma surpresa; alguma canção esquecida que, lembrada pela banda, parece me trazer um par de ouvidos virgens. No caso do National foi a estupenda “Apartment Story”, até então perdida entre as minhas expectativas de ouvir “Start A War”, “Secret Meeting”, “Fake Empire” e algumas outras favoritas mais óbvias - pedidos silenciosos atendidos, todos, pela banda. Começando com uma guitarra com oitavador que faz pensar nos baixos de Peter Hook, do New Order, a canção segue pulando passos pela bateria travada e a sobriedade psicopata de Matt Berninger. A maravilha inesperada, porém, é ela explodir em um contido gran finale, com melodia que – à maneira do National – faz pensar na redenção final de “Under Pressure”. Ao vivo, o coral de vozes dos outros integrantes empurrou esses últimos versos para o céu, e fez, por alguns segundos, a Marina da Glória parecer um templo de fés individuais e não-misturáveis, que se completavam pela entrega de cada uma das pessoas dispostas a mergulharem naquele canto de purgação. Não eram tantos, mas, naquele momento, eram todos infinitos.
Todo grande show me guarda alguma surpresa; alguma canção esquecida que, lembrada pela banda, parece me trazer um par de ouvidos virgens. No caso do National foi a estupenda “Apartment Story”, até então perdida entre as minhas expectativas de ouvir “Start A War”, “Secret Meeting”, “Fake Empire” e algumas outras favoritas mais óbvias - pedidos silenciosos atendidos, todos, pela banda. Começando com uma guitarra com oitavador que faz pensar nos baixos de Peter Hook, do New Order, a canção segue pulando passos pela bateria travada e a sobriedade psicopata de Matt Berninger. A maravilha inesperada, porém, é ela explodir em um contido gran finale, com melodia que – à maneira do National – faz pensar na redenção final de “Under Pressure”. Ao vivo, o coral de vozes dos outros integrantes empurrou esses últimos versos para o céu, e fez, por alguns segundos, a Marina da Glória parecer um templo de fés individuais e não-misturáveis, que se completavam pela entrega de cada uma das pessoas dispostas a mergulharem naquele canto de purgação. Não eram tantos, mas, naquele momento, eram todos infinitos.
Boomp3.com![]()
2 – “Mesmo Que Mude”
Bidê ou Balde (É Preciso Dar Vazão Aos Sentimentos, 2004) Não é de se admirar se o ouvinte mais dedicado tenha desistido dessa banda portoalegrense após o primeiro disco. Embora começasse com o belo hit “Melissa”, Se Tudo É Sexo Só O Rock É Sobre Amor era uma bomba capaz de estrago considerável. Surprendente, portanto, que depois disso o Bidê ou Balde espalhasse uma dúzia de canções bem bacanas (o que, sejamos sinceros, é mais do que sua inspiração maior – os Rentals – jamais conseguiram fazer) em dois álbuns irregulares, mas bastante interessantes. Passei a ver a banda com olhos mais generosos após um contagiante show de abertura para o Lemonheads, em 2004, e comprei este último e melhor cd quando lançado pela Outra Coisa. O resto da discografia, confesso, só fui ouvir essa semana. Isso tudo porque um comercial cretino da Mtv trazia “Mesmo Que Mude” na trilha, e me lembrei de como a música era incrível. Por mais que canções como “Melissa” e “Bromélias” já indicassem uma fonte de bom gosto que a banda teimava esconder por trás de uma penca de micagens, “Mesmo Que Mude” é de uma perfeição estrutural absolutamente surpreendente. Começa com um belo solo, corta para versos onde os riffs marcados de guitarra são aveludados por fluidas linhas de baixo e teclados e, quando tudo já parece bom demais, ainda nos leva a um puta refrão. Tudo no tempo certo, passando de uma parte a outra com cuidado e bom gosto. E se as letras da banda sempre oscilavam entre um certo talento de criação de personagens, e um universo paródico que chegava às raias do incantável, a de “Mesmo Que Mude” é uma simples e bem acabada jóia.
Não é de se admirar se o ouvinte mais dedicado tenha desistido dessa banda portoalegrense após o primeiro disco. Embora começasse com o belo hit “Melissa”, Se Tudo É Sexo Só O Rock É Sobre Amor era uma bomba capaz de estrago considerável. Surprendente, portanto, que depois disso o Bidê ou Balde espalhasse uma dúzia de canções bem bacanas (o que, sejamos sinceros, é mais do que sua inspiração maior – os Rentals – jamais conseguiram fazer) em dois álbuns irregulares, mas bastante interessantes. Passei a ver a banda com olhos mais generosos após um contagiante show de abertura para o Lemonheads, em 2004, e comprei este último e melhor cd quando lançado pela Outra Coisa. O resto da discografia, confesso, só fui ouvir essa semana. Isso tudo porque um comercial cretino da Mtv trazia “Mesmo Que Mude” na trilha, e me lembrei de como a música era incrível. Por mais que canções como “Melissa” e “Bromélias” já indicassem uma fonte de bom gosto que a banda teimava esconder por trás de uma penca de micagens, “Mesmo Que Mude” é de uma perfeição estrutural absolutamente surpreendente. Começa com um belo solo, corta para versos onde os riffs marcados de guitarra são aveludados por fluidas linhas de baixo e teclados e, quando tudo já parece bom demais, ainda nos leva a um puta refrão. Tudo no tempo certo, passando de uma parte a outra com cuidado e bom gosto. E se as letras da banda sempre oscilavam entre um certo talento de criação de personagens, e um universo paródico que chegava às raias do incantável, a de “Mesmo Que Mude” é uma simples e bem acabada jóia.
Boomp3.com![]()
3 – “Brand New Start”
Little Joy (Little Joy, 2008) Vazou o disco de estréia do Little Joy, banda de Rodrigo Amarante (Los Hermanos) e Fab Moretti (Strokes). Cantado quase todo em inglês, o álbum evidencia um dado de construção não muito feliz: parece, como é, produto de uma banda que, com duas ou três canções já escritas, se trancou em um estúdio para compor e gravar todo o resto em alguns poucos dias. Dito isso, é uma surpresa bastante agradável perceber que Little Joy flui bem melhor do que os últimos discos das bandas principais de seus integrantes, articulando bons e maus momentos em uma unidade que, embora desequilibrada, extrai alguma graça da iminência da queda. Os melhores momentos são justamente aqueles em que a pseudo-embriaguez circense de Amarante vai à América, em canções que lembram tanto as incursões vaudeville de Tom Waits (Alice e as canções de realejo de Frankie’s Wild Years), o burlesco bufão do Modest Mouse, ou a graça pueril do I’m From Barcelona. “Brand New Start” é uma mistura dessas três coisas e, nessas primeiras audições, salta ao ouvido como o hit mais óbvio do bolo.
Vazou o disco de estréia do Little Joy, banda de Rodrigo Amarante (Los Hermanos) e Fab Moretti (Strokes). Cantado quase todo em inglês, o álbum evidencia um dado de construção não muito feliz: parece, como é, produto de uma banda que, com duas ou três canções já escritas, se trancou em um estúdio para compor e gravar todo o resto em alguns poucos dias. Dito isso, é uma surpresa bastante agradável perceber que Little Joy flui bem melhor do que os últimos discos das bandas principais de seus integrantes, articulando bons e maus momentos em uma unidade que, embora desequilibrada, extrai alguma graça da iminência da queda. Os melhores momentos são justamente aqueles em que a pseudo-embriaguez circense de Amarante vai à América, em canções que lembram tanto as incursões vaudeville de Tom Waits (Alice e as canções de realejo de Frankie’s Wild Years), o burlesco bufão do Modest Mouse, ou a graça pueril do I’m From Barcelona. “Brand New Start” é uma mistura dessas três coisas e, nessas primeiras audições, salta ao ouvido como o hit mais óbvio do bolo.
Boomp3.com![]()
4 – “Paper Planes”
I’m From Barcelona (Who Killed Harry Houdini?, 2008) Depois de três audições completas, é difícil não lamentar que o segundo álbum do I’m From Barcelona ainda não tenha causado nem a sombra do impacto do grande Let Me Introduce My Friends. Talvez por a banda ter trocado o ensolarado veraneio dos cantos de jardim de infância do primeiro disco, por texturas de primaveril psicodelia. O problema é que, com esse movimento, o I’m From Barcelona parece ter perdido um tantão considerável de carisma, e se tornado um primo menos resplandescente do Polyphonic Spree. “Paper Planes” é uma das poucas canções do disco que parecem capazes de fazer frente ao repertório anterior da banda, embora não tenha a estatura de “Oversleeping”, “Chicken Pox”, “Tree House” ou “We’re From Barcelona”. De minha parte, seguirei ouvindo o disco diariamente, esperando que essas três primeiras audições não passem de equívocos de um ouvido emburrado.
Depois de três audições completas, é difícil não lamentar que o segundo álbum do I’m From Barcelona ainda não tenha causado nem a sombra do impacto do grande Let Me Introduce My Friends. Talvez por a banda ter trocado o ensolarado veraneio dos cantos de jardim de infância do primeiro disco, por texturas de primaveril psicodelia. O problema é que, com esse movimento, o I’m From Barcelona parece ter perdido um tantão considerável de carisma, e se tornado um primo menos resplandescente do Polyphonic Spree. “Paper Planes” é uma das poucas canções do disco que parecem capazes de fazer frente ao repertório anterior da banda, embora não tenha a estatura de “Oversleeping”, “Chicken Pox”, “Tree House” ou “We’re From Barcelona”. De minha parte, seguirei ouvindo o disco diariamente, esperando que essas três primeiras audições não passem de equívocos de um ouvido emburrado.
Boomp3.com![]()
5 – “For Today”
Jessica Lea Mayfield (With Blasphemy, So Heartfelt, 2008) Jessica Lea Mayfield tem 19 anos, cabelos de menino, um par de coturnos e um piercing no meio do nariz. Talvez se torne um novo ícone do indie folk, escrevendo a trilha para um próximo Juno. Talvez não. Vi dois shows seus em Los Angeles, abrindo para o fabuloso Lucero, e me pareceu ter algum carisma. Finalmente achei seu disco de estréia (que ainda não tinha sido lançado na época), e a relação foi menos afetuosa. Talvez por, em disco, não poder ver o baixista gordo e barbudão, que tocava cada nota de seu baixo acústico como se estivesse se transformando no rinoceronte do Jumanji. “For Today” é uma canção bem bonita, e a que parece melhor ter conservado, no disco, o brilho das performances ao vivo. É dessas baladas tristealegres, nunca desagradáveis de se ouvir pela manhã.
Jessica Lea Mayfield tem 19 anos, cabelos de menino, um par de coturnos e um piercing no meio do nariz. Talvez se torne um novo ícone do indie folk, escrevendo a trilha para um próximo Juno. Talvez não. Vi dois shows seus em Los Angeles, abrindo para o fabuloso Lucero, e me pareceu ter algum carisma. Finalmente achei seu disco de estréia (que ainda não tinha sido lançado na época), e a relação foi menos afetuosa. Talvez por, em disco, não poder ver o baixista gordo e barbudão, que tocava cada nota de seu baixo acústico como se estivesse se transformando no rinoceronte do Jumanji. “For Today” é uma canção bem bonita, e a que parece melhor ter conservado, no disco, o brilho das performances ao vivo. É dessas baladas tristealegres, nunca desagradáveis de se ouvir pela manhã.
Boomp3.com![]()
segunda-feira, outubro 27, 2008
Postado por Fábio Andrade às 12:28 AM
Homerfication II Na sessão de O Profundo Desejo dos Deuses, filme de Shohei Imamura exibido pela Caixa Cultura na última sexta-feira, os velhinhos (japoneses ou não) eram a maioria absoluta que quase lotava a sala. Passei os primeiros minutos do filme imaginando quão alto seria o índice de desistências - afinal, estávamos por ver 3 horas de ininterrupta ousadia de um dos mais inquietos nomes do cinema japonês - e, aos poucos, fui ficando realmente emocionado de tomar parte em platéia tão receptiva e de cabeças tão mais dispostas que as jovens - que, aos poucos, eram carregadas por seus donos para fora do cinema. Até que o engenheiro chega à ilha, e pede um copo d'água aos nativos. Ele cospe o primeiro gole e reclama do gosto, que seu guia logo atribui ao alto índice de salinidade da água local. Um dos braços narrativos posteriores do filme é, não à toa, a busca por uma fonte de água doce naquela ilha. E o casal de velhinhos, atrás de mim:
Na sessão de O Profundo Desejo dos Deuses, filme de Shohei Imamura exibido pela Caixa Cultura na última sexta-feira, os velhinhos (japoneses ou não) eram a maioria absoluta que quase lotava a sala. Passei os primeiros minutos do filme imaginando quão alto seria o índice de desistências - afinal, estávamos por ver 3 horas de ininterrupta ousadia de um dos mais inquietos nomes do cinema japonês - e, aos poucos, fui ficando realmente emocionado de tomar parte em platéia tão receptiva e de cabeças tão mais dispostas que as jovens - que, aos poucos, eram carregadas por seus donos para fora do cinema. Até que o engenheiro chega à ilha, e pede um copo d'água aos nativos. Ele cospe o primeiro gole e reclama do gosto, que seu guia logo atribui ao alto índice de salinidade da água local. Um dos braços narrativos posteriores do filme é, não à toa, a busca por uma fonte de água doce naquela ilha. E o casal de velhinhos, atrás de mim:
- O que deram para ele beber? - pergunta o marido, em volume que afastava qualquer possibilidade de inibição.
- Xixi! - respondeu sua senhora.
sábado, outubro 25, 2008
Postado por Fábio Andrade às 10:39 AM
In the basement of my brain O belíssimo show do National ontem, na Marina da Glória, confirmou impressão que há um tempo já coçava meu ouvido: a banda é o U2 da nossa época. O Coldplay é só o bom aluno que até leu as coisas certas, mas entendeu quase tudo errado.
O belíssimo show do National ontem, na Marina da Glória, confirmou impressão que há um tempo já coçava meu ouvido: a banda é o U2 da nossa época. O Coldplay é só o bom aluno que até leu as coisas certas, mas entendeu quase tudo errado.
sexta-feira, outubro 24, 2008
Postado por Fábio Andrade às 3:06 AM
Chorus #1 – I’m Not There Há algum tempo já vinha ensaiando gravar algumas canções novas que fiz para o Driving Music. A idéia, porém, não era gravar cinco delas de uma só vez – como foi com a primeira demo – mas ir canção por canção, liberando-as ao mar no andamento natural da produção. Cheguei a sequenciar a bateria inteira de uma das novas canções há uns meses atrás (tirando as inúmeras que vou deixando de lado, tenho umas outras cinco – prontas ou em processo – que quero gravar logo, antes que desista delas também), e aí foi uma enxurrada de contratempos: viagem, placa de som em greve, trabalho, Festival do Rio, etc. Hoje ia rever Era Uma Vez em Tóquio na Caixa Cultural, mas um torcicolo que começou a descer pra escápula (meu calcanhar se eu fosse Aquiles) me aconselhou evitar as cadeiras daquela sala, para estar inteiro para um dia seguinte de 3 horas de Imamura, seguido pelo aguardadíssimo show do National. Aproveitei o tempo de molho pra abrir o computador, limpar a placa de som (maresia não gosta de rock - tanto quanto eu gosto de parênteses) pra ver se ela funcionava de novo (funcionou!), e recomeçar os trabalhos. A idéia desse post, portanto, é começar um acompanhamento – que a pricípio pretendo seguir, mas que está sempre à maré do interesse – desse processo de gravação, já que até hoje recebo emails perguntando como fiz pra gravar a demo toda em casa, sozinho, sem grana, etc.
Há algum tempo já vinha ensaiando gravar algumas canções novas que fiz para o Driving Music. A idéia, porém, não era gravar cinco delas de uma só vez – como foi com a primeira demo – mas ir canção por canção, liberando-as ao mar no andamento natural da produção. Cheguei a sequenciar a bateria inteira de uma das novas canções há uns meses atrás (tirando as inúmeras que vou deixando de lado, tenho umas outras cinco – prontas ou em processo – que quero gravar logo, antes que desista delas também), e aí foi uma enxurrada de contratempos: viagem, placa de som em greve, trabalho, Festival do Rio, etc. Hoje ia rever Era Uma Vez em Tóquio na Caixa Cultural, mas um torcicolo que começou a descer pra escápula (meu calcanhar se eu fosse Aquiles) me aconselhou evitar as cadeiras daquela sala, para estar inteiro para um dia seguinte de 3 horas de Imamura, seguido pelo aguardadíssimo show do National. Aproveitei o tempo de molho pra abrir o computador, limpar a placa de som (maresia não gosta de rock - tanto quanto eu gosto de parênteses) pra ver se ela funcionava de novo (funcionou!), e recomeçar os trabalhos. A idéia desse post, portanto, é começar um acompanhamento – que a pricípio pretendo seguir, mas que está sempre à maré do interesse – desse processo de gravação, já que até hoje recebo emails perguntando como fiz pra gravar a demo toda em casa, sozinho, sem grana, etc.
A nova canção se chama “Chorus”, e já estava rascunhada quando gravei as primeiras cinco do Driving Music. Desde que comecei a escrevê-la, animei-me com a possibilidade de caminho musical que ela me acenava: é uma canção bem curta (dois minutos e meio, segundo a timeline do Sonar), de andamento mais fluido, cantada do início ao fim – como as canções pop sem solos da década de 1950 – e com uma melodia ensolaradíssima. Nasceu do meio de coisas que eu estava escutando na época – Lemonheads, Teenage Fanclub, Pernice Brothers, Limbeck – e aos poucos foi se transformando, ganhando traços mais definidos conforme perdia as roupas pelo caminho. Uma das poucas adições, e das mais distintivas, foi um riff que se repete a todo tempo, virando uma espécie de leitmotif dentro da canção. É uma linha melódica de cinco notas enfileiradas feito bobas, que pela construção fazem lembrar as melodias Coney Island do Tom Waits, mas que eu quero gravar à Springsteen, dobrando essa linha com guitarras, teclados e glockenspiel. Pode ser que não funcione, mas estou ansioso pra testar. De resto, quanto maior a discrição, melhor: baixo e bateria retos – muito mais diretos se comparados aos das canções anteriores - e guitarras tweedy quase limpas deitadas em camas de violões e hammond. Estou tentado a gravar uma guitarra com slide também, embora eu saiba que não domino muito bem a geringonça. Também planejo harmonizar minhas várias vozes, na esperança de pegar um pouco dessa atmosfera 50’s original à canção.
Então hoje foi dia de reabrir o projeto da bateria no Reason, tirar alguns excessos, acertar um acento de dinâmica que me ocorreu nos meses em pausa, e exportar a coisa toda pro Sonar. Acho interessante que a canção tenha sido escrita com uma vontade meio “Into Your Arms”, mas que agora ela vai sendo remoldada pela minha recente obsessão pelos discos do Ron Sexsmith – que, hoje, me parece ser o paralelo mais apropriado a se fazer com a “Chorus” que ainda ouço na minha cabeça (embora alguém vá comparar com Millencolin no final). Não no território das baladas, quem me dera, mas de canções como “Keep It In Mind”, “Disappearing Act” ou “A Clown In Broad Daylight”. Existe um parentesco estrutural entre essas canções mais rock’n’roll do Ron Sexsmith e “Chorus”, talvez pela busca da contenção nos arranjos; pela preocupação maior de inflá-los de invisibilidade. Porém, à distância, meu registro vocal é bem mais alto e áspero, passando longe do gogó à Roy Orbison do Sexsmith. Talvez ela pudesse ser uma canção que ele tenha gravado aos doze anos de idade – o que, para mim, parece bom o suficiente.
Mas a identificação com os discos de Sexsmith que já começa a nortear o trabalho com a canção é justamente pela limpeza de todo excesso, e isso já começou nesse primeiro dia. Na primeira demo eu queria muito que a bateria programada não fosse uma limitação, e que eu pudesse trabalhá-la como faria com uma bateria gravada ao vivo. Hoje, já me sinto mais à vontade para retornar às canções, simplesmente, podendo trabalhar os elementos que tenho à disposição sem tanta dedicação virtuosística ou técnica (dois papéis que eu nunca soube representar), jogando ao fundo o que ao fundo pertence (hoje, as baterias daquelas primeiras gravações me soam irritantemente altas), tentando compreender melhor o tamanho de cada coisa. É uma ambição nada nova de depuração, que carrego comigo desde o Hollywood (já que o Fireworks é o resultado do encantamento com as possibilidades de se estar à vontade em um estúdio, em uma ilusão de que o processo andava ao seu tempo enquanto, na verdade, se esticava para além de suas bordas) e que hoje acredito compreender melhor. É um processo - inviável como realização, mas necessário para mim enquanto meta - de me retirar de uma canção que, como todas as outras, só ao mundo pertence. E se, ao final, o ouvinte não conseguir me encontrar dentro dela, tanto melhor.
* * *
Aos leitores que não têm interesse algum em minhas canções, mas nutrem um fetiche pelas minhas sandices e cotações no imdb, fiquem tranquilos: este blog seguirá funcionando normalmente, com apenas algumas intervenções deste eu que acha que cria melhor quando não cria em silêncio.
quarta-feira, outubro 22, 2008
Postado por Fábio Andrade às 9:37 PM
Homerfication Você descobre que sua cabeça anda tomando rumos muito esquisitos quando vai assistir a A Luta Solitária (Shizukanaru ketto, 1949), de Akira Kurosawa, e, em meio a toda a dor do doutorsifílicoviúvovirgemdesimesmo que todos dizem ser um santo, você só consegue pensar em como seria maneiro se Seth Rogen e Evan Goldberg decidissem escrever uma versão americana pro filme. E os tradutores brasileiros manteriam o título original, sem abrir mão do obrigátorio pós-traço: Blue Balls - O peso de um pau duro.
Você descobre que sua cabeça anda tomando rumos muito esquisitos quando vai assistir a A Luta Solitária (Shizukanaru ketto, 1949), de Akira Kurosawa, e, em meio a toda a dor do doutorsifílicoviúvovirgemdesimesmo que todos dizem ser um santo, você só consegue pensar em como seria maneiro se Seth Rogen e Evan Goldberg decidissem escrever uma versão americana pro filme. E os tradutores brasileiros manteriam o título original, sem abrir mão do obrigátorio pós-traço: Blue Balls - O peso de um pau duro.
segunda-feira, outubro 20, 2008
Postado por Fábio Andrade às 9:12 PM
Top 5 da semana
De volta após o Festival do Rio, em semana de filmes assustadoramente fortes. Pelo populismo, passei a incluir as cotações do imdb ao lado dos títulos.
Filmes
1 – Bom Trabalho (Beau Travail)
de Claire Denis (França, 1999) – 10/10 Na revisão, a obra-prima de Claire Denis (diretora que traz uma penca de grandes filmes no currículo, e pelo menos outra obra-prima – Desejo e Obsessão, de 2001) conseguiu me impressionar ainda mais. É, sobretudo, um filme grego – lembrando, com o glorioso balé de músculos frente ao céu azul, as estátuas dos deuses em O Desprezo, de Jean-Luc Godard. Além de ter um dos finais mais marcantes do cinema contemporâneo, toda a coreografia de Bom Trabalho se torna monumental pelo brilho primoroso dos key lights de Agnès Godard – que a bela cópia em DVD da Artificial Eye consegue conservar.
Na revisão, a obra-prima de Claire Denis (diretora que traz uma penca de grandes filmes no currículo, e pelo menos outra obra-prima – Desejo e Obsessão, de 2001) conseguiu me impressionar ainda mais. É, sobretudo, um filme grego – lembrando, com o glorioso balé de músculos frente ao céu azul, as estátuas dos deuses em O Desprezo, de Jean-Luc Godard. Além de ter um dos finais mais marcantes do cinema contemporâneo, toda a coreografia de Bom Trabalho se torna monumental pelo brilho primoroso dos key lights de Agnès Godard – que a bela cópia em DVD da Artificial Eye consegue conservar.
2 – Os Três Bêbados Ressuscitados (Kaette kita yopparai)
de Nagisa Oshima (Japão, 1968) – 10/10 Por sua incorruptível crueza, Oshima sempre me pareceu quem melhor incorporou o sentimento dos cinemas novos. Os Três Bêbados Ressucitados traz diversos dos elementos mais caros a essa geração – a juventude, o cinema como tema a ser problematizado, as drogas, as mulheres, a desorientação política – com um senso de humor tão admirável quanto cortante. Parte de uma simples imagem – a célebre foto do vietnamita morto com um tiro na cabeça que, apesar de revelada de fato apenas ao fim, ronda a narrativa desde os primeiros minutos – para pensar todo um manancial imagético dos jovens na década de 1960, questionando política e moralmente essa relação, sem nunca querer ser denúncia de coisa alguma. É um filme sobre consequências – não sobre causas – e isso faz uma diferença brutal.
Por sua incorruptível crueza, Oshima sempre me pareceu quem melhor incorporou o sentimento dos cinemas novos. Os Três Bêbados Ressucitados traz diversos dos elementos mais caros a essa geração – a juventude, o cinema como tema a ser problematizado, as drogas, as mulheres, a desorientação política – com um senso de humor tão admirável quanto cortante. Parte de uma simples imagem – a célebre foto do vietnamita morto com um tiro na cabeça que, apesar de revelada de fato apenas ao fim, ronda a narrativa desde os primeiros minutos – para pensar todo um manancial imagético dos jovens na década de 1960, questionando política e moralmente essa relação, sem nunca querer ser denúncia de coisa alguma. É um filme sobre consequências – não sobre causas – e isso faz uma diferença brutal.
3 – As Damas do Bois de Boulogne (Les Dames du Bois de Boulogne)
de Robert Bresson (França, 1945) – 9/10 Realizado logo antes da ruptura estética (Diário de um Pároco de Aldeia, filme seguinte a este) que marcaria o Bresson que o mundo conhece, As Damas do Bois de Boulogne é movido por uma transparência narrativa que faz lembrar sujeitos como David Lean (Desencanto, sobretudo), Max Ophuls e até Josef Von Sternberg. Mas é um parentesco surpreendente justamente pela maneira particular que Robert Bresson explorará a decupagem clássica. Talvez a seqüência que melhor expresse isso seja justamente a inicial: ao ouvir de um amigo que seu marido não lhe amaria mais, Hélène (María Casares) torna uma situação banal tão particular por uma simples distorção dos corpos: em vez de interagir com o amigo, Bresson a coloca olhando levemente na direção contrária – para fora do carro e do quadro. “Eu só vejo e ouço o que desejo”, diria ela, mais tarde. Já estava dito por aquele olhar, naquele plano. Hélène parece, ao fim, representar a própria figura do diretor: uma personagem que manipula as estruturas à sua volta para, com o máximo de discrição, conduzir os outros a produzirem ações que pareçam espontâneas e naturais, mesmo quando rigorosamente armadas. Antes de desenvolver todo o seu solidíssimo projeto artístico, Bresson já abalava as estruturas convencionais em cenas como a do carro (e como o diálogo no bosque que é abafado pelo som da cachoeira), ou por falas tão brilhantes quanto “Ela queria viver para dançar, e não dançar para viver”.
Realizado logo antes da ruptura estética (Diário de um Pároco de Aldeia, filme seguinte a este) que marcaria o Bresson que o mundo conhece, As Damas do Bois de Boulogne é movido por uma transparência narrativa que faz lembrar sujeitos como David Lean (Desencanto, sobretudo), Max Ophuls e até Josef Von Sternberg. Mas é um parentesco surpreendente justamente pela maneira particular que Robert Bresson explorará a decupagem clássica. Talvez a seqüência que melhor expresse isso seja justamente a inicial: ao ouvir de um amigo que seu marido não lhe amaria mais, Hélène (María Casares) torna uma situação banal tão particular por uma simples distorção dos corpos: em vez de interagir com o amigo, Bresson a coloca olhando levemente na direção contrária – para fora do carro e do quadro. “Eu só vejo e ouço o que desejo”, diria ela, mais tarde. Já estava dito por aquele olhar, naquele plano. Hélène parece, ao fim, representar a própria figura do diretor: uma personagem que manipula as estruturas à sua volta para, com o máximo de discrição, conduzir os outros a produzirem ações que pareçam espontâneas e naturais, mesmo quando rigorosamente armadas. Antes de desenvolver todo o seu solidíssimo projeto artístico, Bresson já abalava as estruturas convencionais em cenas como a do carro (e como o diálogo no bosque que é abafado pelo som da cachoeira), ou por falas tão brilhantes quanto “Ela queria viver para dançar, e não dançar para viver”.
4 – Uma Ave no Vento (Kaze no naka no mendori)
de Yasujiro Ozu (Japão, 1948) – 9/10 Se Ozu não assinasse todas as suas imagens em letras garrafais, não seria difícil assistir a Uma Ave no Vento acreditando ser, na realidade, um filme de Kenji Mizoguchi. Um dos filmes menos conhecidos de Ozu, Uma Ave no Vento forma com o filme seguinte – a obra-prima Pai e Filha – um retrato duplo sobre os efeitos da segunda guerra mundial em seu cinema. Cineasta das contingências, é bastante natural as famílias de Ozu também serem afetadas pela vida na guerra, e Uma Ave no Vento se torna – por isso mesmo – o momento em que uma circunstância tão pontual ganhou maior destaque em sua carreira. Ozu não precisa de mais do que uma seqüência para pôr a trama em movimento: vemos uma mãe interagindo com o filho para, com um corte, passarmos à foto do marido vestindo um uniforme militar. O filho fica doente e, com o marido na guerra, a mulher se vê obrigada a se prostituir para pagar as contas do tratamento. Se para Mizoguchi esse detalhe renderia (como rende) questão para vários filmes, Ozu passa rapidamente por isso e faz o marido voltar logo da guerra. A partir daí pode pensar seu único tema: os efeitos do tempo sobre o núcleo familiar. Filme de intensidade estranha a Yasujiro Ozu, Uma Ave no Vento traz uma das imagens mais fortes já criadas pelo diretor: a mãe que carrega, literalmente, o filho nas costas.
Se Ozu não assinasse todas as suas imagens em letras garrafais, não seria difícil assistir a Uma Ave no Vento acreditando ser, na realidade, um filme de Kenji Mizoguchi. Um dos filmes menos conhecidos de Ozu, Uma Ave no Vento forma com o filme seguinte – a obra-prima Pai e Filha – um retrato duplo sobre os efeitos da segunda guerra mundial em seu cinema. Cineasta das contingências, é bastante natural as famílias de Ozu também serem afetadas pela vida na guerra, e Uma Ave no Vento se torna – por isso mesmo – o momento em que uma circunstância tão pontual ganhou maior destaque em sua carreira. Ozu não precisa de mais do que uma seqüência para pôr a trama em movimento: vemos uma mãe interagindo com o filho para, com um corte, passarmos à foto do marido vestindo um uniforme militar. O filho fica doente e, com o marido na guerra, a mulher se vê obrigada a se prostituir para pagar as contas do tratamento. Se para Mizoguchi esse detalhe renderia (como rende) questão para vários filmes, Ozu passa rapidamente por isso e faz o marido voltar logo da guerra. A partir daí pode pensar seu único tema: os efeitos do tempo sobre o núcleo familiar. Filme de intensidade estranha a Yasujiro Ozu, Uma Ave no Vento traz uma das imagens mais fortes já criadas pelo diretor: a mãe que carrega, literalmente, o filho nas costas.
5 – A Rua da Vergonha (Akasen chitai)
de Kenji Mizoguchi (Japão, 1956) – 9/10 Curiosa uma semana que contrapõe visões tão complementares: assim como Uma Ave no Vento aproxima o universo de Ozu ao de Kenji Mizoguchi, os primeiros minutos de A Rua da Vergonha parecem, de fato, um filme de Yasujiro Ozu. Último grito de Mizoguchi – lançado em dvd esplendoroso na série Masters of Cinema – A Rua da Vergonha parece expor o ambiente mais caro ao diretor (um bordel) aos efeitos do tempo que passa. Quando ouvimos a possibilidade da aprovação de uma lei que tornaria a prostituição ilegal (e Mizoguchi faz clara declaração de princípios ao dividir a discussão em uma amigável conversa entre um dono de bordel e um policial), temos a impressão de que Mizoguchi estaria enxergando, ali, o fim de seu cinema. O mais perturbador, porém, é que a lei não é aprovada, fazendo a discussão sobreviver à morte do diretor. Mizoguchi retorna ao que todos seus filmes deixam claro: seu interesse não está nas questões pontuais, mas sim nos valores. Não à toa temos, aqui, em meio a discurso tão múltiplo quanto complexo, a inserção de meninas que já absorveram trajes e hábitos ocidentalizados (fazendo lembrar de O Fim do Verão, também de Ozu), e que, com notável impetuosidade, quebram o jogo de máscaras das relações japonesas expondo-as na nudez de sua natureza: é comércio, puro e simples. Além dos talentos já conhecidos de Mizoguchi (o exímio controle da luz; o trabalho cuidadoso das camadas de profundidade dos cenários; a certeza de seus movimentos de câmera), fica como interessante vislumbre a trilha de Toshirô Mayuzumi – compositor que, embora tenha trabalhado com Ozu e Mizoguchi, se tornaria mais conhecido pelo trabalho de vanguarda com a geração seguinte de realizadores japoneses, em especial ao lado de Shohei Imamura.
Curiosa uma semana que contrapõe visões tão complementares: assim como Uma Ave no Vento aproxima o universo de Ozu ao de Kenji Mizoguchi, os primeiros minutos de A Rua da Vergonha parecem, de fato, um filme de Yasujiro Ozu. Último grito de Mizoguchi – lançado em dvd esplendoroso na série Masters of Cinema – A Rua da Vergonha parece expor o ambiente mais caro ao diretor (um bordel) aos efeitos do tempo que passa. Quando ouvimos a possibilidade da aprovação de uma lei que tornaria a prostituição ilegal (e Mizoguchi faz clara declaração de princípios ao dividir a discussão em uma amigável conversa entre um dono de bordel e um policial), temos a impressão de que Mizoguchi estaria enxergando, ali, o fim de seu cinema. O mais perturbador, porém, é que a lei não é aprovada, fazendo a discussão sobreviver à morte do diretor. Mizoguchi retorna ao que todos seus filmes deixam claro: seu interesse não está nas questões pontuais, mas sim nos valores. Não à toa temos, aqui, em meio a discurso tão múltiplo quanto complexo, a inserção de meninas que já absorveram trajes e hábitos ocidentalizados (fazendo lembrar de O Fim do Verão, também de Ozu), e que, com notável impetuosidade, quebram o jogo de máscaras das relações japonesas expondo-as na nudez de sua natureza: é comércio, puro e simples. Além dos talentos já conhecidos de Mizoguchi (o exímio controle da luz; o trabalho cuidadoso das camadas de profundidade dos cenários; a certeza de seus movimentos de câmera), fica como interessante vislumbre a trilha de Toshirô Mayuzumi – compositor que, embora tenha trabalhado com Ozu e Mizoguchi, se tornaria mais conhecido pelo trabalho de vanguarda com a geração seguinte de realizadores japoneses, em especial ao lado de Shohei Imamura.
Canções
1 – “I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free”
de Nina Simone (Silk and Soul, 1967) Clássico gravado por Nina Simone em Silk and Soul, “I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free” deveria ser adotada em cursos de música como tradução perfeita do conceito de “dinâmica musical”. Uma única linha melódica é repetida ao longo de toda a canção, mas vai ganhando corpo ora pelas variações da letra, ora pela entrada de novos instrumentos (os metais, em especial) ou, ainda mais complexo, pela dobra da levada de bateria na estrofe final. É de um minimalismo extremo que, pelo brilhantismo do arranjo e a interpretação carnal de Nina Simone, se constrói como pura redenção.
Clássico gravado por Nina Simone em Silk and Soul, “I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free” deveria ser adotada em cursos de música como tradução perfeita do conceito de “dinâmica musical”. Uma única linha melódica é repetida ao longo de toda a canção, mas vai ganhando corpo ora pelas variações da letra, ora pela entrada de novos instrumentos (os metais, em especial) ou, ainda mais complexo, pela dobra da levada de bateria na estrofe final. É de um minimalismo extremo que, pelo brilhantismo do arranjo e a interpretação carnal de Nina Simone, se constrói como pura redenção.
Boomp3.com![]()
2 – “Diane”
de Guster (Keep It Together, 2003) Muito provavelmente o melhor disco lançado em 2003, Keep It Together levaria a um nível inimaginável as potências pop que o Guster já deixara claras em Lost and Gone Forever, de 2001 (e um tanto pálidas em Ganging Up On the Sun, de 2006). “Diane” é a primeira de uma seqüência de 9 canções perfeitas (só parando para um breve respiro depois da linda “Come Downstairs and Say Hello”) e, mesmo depois de tantas audições, seu brilho permanece intacto. Basicamente um jogo de camadas de uma mesma voz (a de Ryan Miller – já que Adam Gardner faz apenas alguns dos backing vocals da canção), “Diane” alcança novos níveis de emoção conforme Miller sobe no registro (os agudos de “The theme returns so deep / and visits us in sleep...”, e do backing “And I may leave in time you'll see / I'll come right back for you”). Keep It Together é um disco delicioso, e – assim como Lost and Gone Forever e o primoroso dvd ao vivo Guster On Ice – traz uma banda interessantíssima em seu melhor momento.
Muito provavelmente o melhor disco lançado em 2003, Keep It Together levaria a um nível inimaginável as potências pop que o Guster já deixara claras em Lost and Gone Forever, de 2001 (e um tanto pálidas em Ganging Up On the Sun, de 2006). “Diane” é a primeira de uma seqüência de 9 canções perfeitas (só parando para um breve respiro depois da linda “Come Downstairs and Say Hello”) e, mesmo depois de tantas audições, seu brilho permanece intacto. Basicamente um jogo de camadas de uma mesma voz (a de Ryan Miller – já que Adam Gardner faz apenas alguns dos backing vocals da canção), “Diane” alcança novos níveis de emoção conforme Miller sobe no registro (os agudos de “The theme returns so deep / and visits us in sleep...”, e do backing “And I may leave in time you'll see / I'll come right back for you”). Keep It Together é um disco delicioso, e – assim como Lost and Gone Forever e o primoroso dvd ao vivo Guster On Ice – traz uma banda interessantíssima em seu melhor momento.
Boomp3.com![]()
3 – “Your Lies”
de Shelby Lynne (I Am Shelby Lynne, 2000) Procurei I Am Shelby Lynne por recomendação do Sérgio Alpendre em seu Melomania, e logo me vi de joelhos diante de “Your Lies”, o furacão retrô que abre o disco. A canção faz lembrar as Ronettes (em especial por a produção revitalizar as cordas de Phil Spector), mas talvez só como um lado b descartado por não ser alegre o suficiente para as três moças do Brooklyn (embora ainda seja florido demais para as Shangri-las).
Procurei I Am Shelby Lynne por recomendação do Sérgio Alpendre em seu Melomania, e logo me vi de joelhos diante de “Your Lies”, o furacão retrô que abre o disco. A canção faz lembrar as Ronettes (em especial por a produção revitalizar as cordas de Phil Spector), mas talvez só como um lado b descartado por não ser alegre o suficiente para as três moças do Brooklyn (embora ainda seja florido demais para as Shangri-las).
Boomp3.com![]()
4 - "All My Stars Alligned"
de St. Vincent (Marry Me, 2007) A melhor canção de Marry Me continua sendo a faixa título, mas "All My Stars Alligned" deixa muito claro que, por mais que as canções mais angulares de Annie Clark sejam divertidas, é realmente nas baladas que seu disco se torna especial. "All My Stars Alligned" tem tanto de Joni Mitchell quanto de Walt Disney - com direito a um mergulho nas sombras da canção por volta dos 2:35. É também a canção em que a voz de Annie mais lembra a de Sarah Shannon, do saudoso Velocity Girl.
A melhor canção de Marry Me continua sendo a faixa título, mas "All My Stars Alligned" deixa muito claro que, por mais que as canções mais angulares de Annie Clark sejam divertidas, é realmente nas baladas que seu disco se torna especial. "All My Stars Alligned" tem tanto de Joni Mitchell quanto de Walt Disney - com direito a um mergulho nas sombras da canção por volta dos 2:35. É também a canção em que a voz de Annie mais lembra a de Sarah Shannon, do saudoso Velocity Girl.
Boomp3.com![]()
5 - "A Car That Sped"
de Gene (Olympian, 1995) Sempre que vou passar um fim de semana em Barra Mansa, desencravo algum cd esquecido para ouvir durante minha estada. Nesse último foi a vez do Gene, banda que nunca nem tentou se esquivar das comparações com os Smiths. Seja pela influência incortonável de Morrissey na empostação levemente afetada de Martin Rossiter, ou na própria capa de Olympian, o quarteto inglês de britpop sempre deixou clara sua filiação à seminal banda de Manchester. A grande diferença, é que o Gene adicionava às melodias agridoces um punch de banda de rock que os Smiths talvez só tenham almejado em "London". Hoje finado e esquecido, o Gene lançou quatro álbuns de estúdio (e um outro ao vivo) sem nunca alcançar a notabilidade que suas belas canções mereciam. Olympian segue como o melhor trabalho da banda, e a bela "A Car That Sped" se destacou no novo contato com seu fortíssimo refrão - em um disco que ainda tem pérolas como "Haunted By You", "London Can You Wait" e a velha favorita "Sleep Well Tonight".
Sempre que vou passar um fim de semana em Barra Mansa, desencravo algum cd esquecido para ouvir durante minha estada. Nesse último foi a vez do Gene, banda que nunca nem tentou se esquivar das comparações com os Smiths. Seja pela influência incortonável de Morrissey na empostação levemente afetada de Martin Rossiter, ou na própria capa de Olympian, o quarteto inglês de britpop sempre deixou clara sua filiação à seminal banda de Manchester. A grande diferença, é que o Gene adicionava às melodias agridoces um punch de banda de rock que os Smiths talvez só tenham almejado em "London". Hoje finado e esquecido, o Gene lançou quatro álbuns de estúdio (e um outro ao vivo) sem nunca alcançar a notabilidade que suas belas canções mereciam. Olympian segue como o melhor trabalho da banda, e a bela "A Car That Sped" se destacou no novo contato com seu fortíssimo refrão - em um disco que ainda tem pérolas como "Haunted By You", "London Can You Wait" e a velha favorita "Sleep Well Tonight".
Boomp3.com![]()
quarta-feira, outubro 15, 2008
Postado por Fábio Andrade às 10:05 PM
Da abjeção Fui, enfim, ver o Ensaio Sobre A Cegueira, do Fernando Meirelles. Não li o livro do Saramago e confesso não ter lá muita simpatia pelo português, mas o problema maior do filme é que todo aquele jeito de meninão ingênuo do Meirelles – para o bem e para o mal, tão fascinante no blog que ele fez sobre o filme, e nas entrevistas de divulgação – quando se traduz em imagem gera coisas absolutamente assustadoras. Não preciso nem falar (mas vou falar assim mesmo) sobre a incapacidade de Meirelles de não pular o eixo entre um corte e outro (mesmo sabendo que a desorientação é, muitas vezes, buscada – embora seja difícil engoli-la como conceito), sobre a impossibilidade de se compor um quadro minimamente rigoroso, sobre o desempenho muito assustador de alguns atores (Alice Braga em um caso crônico de vergonha alheia – com Mark Ruffalo e Danny Glover de preto velho vindo logo atrás), sobre a pobreza de se representar a cegueira pela superexposição (algo tão banal que eu já vi até em filme de conclusão de curso na PUC), ou sobre aquelas construções de epifania bizarras (a cena musical; o banho de chuva; o cachorro lambendo o rosto da Julianne Moore; a aula de piano entreouvida no silêncio da cidade). Perturbadora mesmo é a lembrança do meninão Meirelles escrevendo em seu blog que a cena do estupro tinha sido mal recebida nos test screenings, e aí logo imaginamos ele, em uma tentativa desesperada de amenizar o impacto da cena, sugerindo “Vamos pegar aquela trilha meio Nino Rota que o Uakti fez e colocar nessa cena”. É lá se vai a mulherada, naquela filinha circense, em passinho marcado rumo a um estupro light e animadinho.
Fui, enfim, ver o Ensaio Sobre A Cegueira, do Fernando Meirelles. Não li o livro do Saramago e confesso não ter lá muita simpatia pelo português, mas o problema maior do filme é que todo aquele jeito de meninão ingênuo do Meirelles – para o bem e para o mal, tão fascinante no blog que ele fez sobre o filme, e nas entrevistas de divulgação – quando se traduz em imagem gera coisas absolutamente assustadoras. Não preciso nem falar (mas vou falar assim mesmo) sobre a incapacidade de Meirelles de não pular o eixo entre um corte e outro (mesmo sabendo que a desorientação é, muitas vezes, buscada – embora seja difícil engoli-la como conceito), sobre a impossibilidade de se compor um quadro minimamente rigoroso, sobre o desempenho muito assustador de alguns atores (Alice Braga em um caso crônico de vergonha alheia – com Mark Ruffalo e Danny Glover de preto velho vindo logo atrás), sobre a pobreza de se representar a cegueira pela superexposição (algo tão banal que eu já vi até em filme de conclusão de curso na PUC), ou sobre aquelas construções de epifania bizarras (a cena musical; o banho de chuva; o cachorro lambendo o rosto da Julianne Moore; a aula de piano entreouvida no silêncio da cidade). Perturbadora mesmo é a lembrança do meninão Meirelles escrevendo em seu blog que a cena do estupro tinha sido mal recebida nos test screenings, e aí logo imaginamos ele, em uma tentativa desesperada de amenizar o impacto da cena, sugerindo “Vamos pegar aquela trilha meio Nino Rota que o Uakti fez e colocar nessa cena”. É lá se vai a mulherada, naquela filinha circense, em passinho marcado rumo a um estupro light e animadinho.
sábado, outubro 11, 2008
Postado por Fábio Andrade às 5:58 AM
Festival do Rio 2008 – Balanço geral
Em primeiro lugar, registro aqui meu agradecimento aos leitores que, durante o festival, fizeram a média diária de acessos ao blog dobrar. Se eu ligasse um pouco mais pra essas coisas, a partir de hoje o blog passaria a ser um cópia ilustrada das minhas cotações do imdb. Como eu sou burro, retornarei aos textos que só a metade de vocês tem paciência de ler.
Muito por isso, achei que a experiência merecia um post um pouco mais longo, com comentários mais detidos e alguns gracejos que serviam pra puxar assunto com os amigos após os filmes. Aos que já ouviram algumas deles, mil perdões, mas sou famoso por contar as mesmas piadas várias vezes para todos que eu conheço. Ao menos isso já o classifica como meu amigo. Comecemos, então.
Ausências
Para quem acompanhou com interesse as primeiras programações divulgadas pela organização do Festival, é impossível não lamentar a ausência de, ao menos, quatro filmes:
- 35 Doses de Rum (35 Rhums) – de Claire Denis;
- Che – de Steve Soderbergh;
- Ponyo On The Cliff By The Sea – de Hayao Miyazaki;
- Blue – de Derek Jarman;
Os dois primeiros ficaram sem horários programados no site, e nem chegaram a sair no caderno especial do Globo. Ponyo caiu por determinação do estúdio do Miyazaki, e Blue não chegou nem pra repescagem. De qualquer maneira, são ausências que minguaram sensivelmente a programação. Se somarmos a isso a ausência do vencedor da Palma de Ouro desse ano (Entre Os Muros, que parece confirmado pra Mostra de SP), e de novos filmes de Jia Zhang-ke, Agnés Varda, Abbas Kiarostami e Johnny To (pra ficar nos que vêm à cabeça agora), qualquer intenção de cobrir os filmes mais importantes dos últimos anos (já que filmes como A Viagem do Balão Vermelho, Inútil e Na Cidade de Sylvia já tinham passado em SP no ano passado) vai pro ralo.
Salas
Destaque inevitável para a inclusão do Estação Vivo Gávea – salas novas, com os melhores projetores, o melhor som e – grande destaque – espreguiçadeiras confortabilíssimas nas primeiras filas de duas delas (não conheço a sala 3, mas pode ser que elas existam por lá também). Até a menor – sala 4 – tem uma tela bem razoável, e as espreguiçadeiras ficam a uma distância aceitável da tela. Se não fosse o ar condicionado brutal da Sala 5, ela se firmaria como nova sala favorita no Rio de Janeiro.
Risquei logo da lista o Botafogo 3, por ter tido minha entrada com credencial dificultada por funcionários e gerência da sala. Tive problemas nos primeiros dias no Espaço de Cinema, mas depois a coisa se normalizou. E o Botafogo 1 se firma como a pior entre as salas grandes da zona sul: projetor com lâmpada fraquinha, som em mono e cadeiras que, só na repescagem, me deixaram com uma dor na coluna que ainda não me abandonou.
Ruin
As projeções digitais da Rain continuam uma incógnita completa. Embora Inútil tenha tido uma belíssima projeção digital no Botafogo 1 (nas cabines) – a ponto de eu desejar que o Em Busca da Vida não tivesse sido lançado com aquele transfer safado – as outras duas sessões que vi em digital foram lamentáveis: Minha Mágica virou uma escuridão só, e Conto de Natal passou em um quase-VHS, com as laterais cortadas. Assim que vi o primeiro plano, abandonei a sessão.
Desejos não cumpridos (ou, Queria muito, mas não deu pra ver)
- Guerra Sem Cortes (Redacted) – de Brian De Palma (que tenho em DVD, mas não assisti ainda);
- Alexandra (Aleksandra) – de Aleksandr Sokurov
- Sob Controle (Surveillance) – de Jennifer Lynch
- Happy Go-Lucky – de Mike Leigh
- Ninho Vazio (El nido vacío) – de Daniel Burman
- Queime depois de ler (Burn After Reading) – de Joel & Ethan Coen
- O Casamento do Rachel (Rachel’s Getting Married) – de Johnathan Demme
- Todos Têm Problemas Sexuais – de Domingos Oliveira
- Ballast – de Lance Hammer
- Vicky Cristina Barcelona – de Woody Allen
Fora as retrospectivas de Derek Jarman, irmãos Taviani, e as Divas Italianas.
Aos filmes, então
1 – Sonata de Tóquio (Tôkyô Sonata) – de Kiyoshi Kurosawa Meu favorito, já com crítica minha na Cinética.
Meu favorito, já com crítica minha na Cinética.
2 – A Viagem do Balão Vermelho (Le Voyage du Ballon Rouge) – de Hou Hsiao-hsien A musicalidade do cinema de Hou Hsiao-hsien, exuberante em um de seus mais singelos filmes. Sentindo o ritmo da construção visual de Hou, percebi que a única personagem chinesa de A Viagem do Balão Vermelho se chamava Song Chan, e que a inversão do nome era quase igual a chanson – palavra francesa para “canção” – e que eu seria capaz de escrever uma crítica inteira partindo disso aí. Até que percebi que o nome dela era Song Fang, e meu mundo todo ruiu.
A musicalidade do cinema de Hou Hsiao-hsien, exuberante em um de seus mais singelos filmes. Sentindo o ritmo da construção visual de Hou, percebi que a única personagem chinesa de A Viagem do Balão Vermelho se chamava Song Chan, e que a inversão do nome era quase igual a chanson – palavra francesa para “canção” – e que eu seria capaz de escrever uma crítica inteira partindo disso aí. Até que percebi que o nome dela era Song Fang, e meu mundo todo ruiu.
3 – Aquele Querido Mês de Agosto – de Miguel Gomes Dicão do Eduardo Valente, que se firmou como uma das melhores lembranças do Festival. Queria ter revisto, mas não ficou pra repescagem. Além de começar com um poema de João de Deus, é um filme especialmente forte, para mim, por reviver minha infância em cidade pequena, com festinhas parecidas com aquelas, mitologias populares parecidas com aquelas, e bandas de baile parecidas com aquelas. Lá pro final do filme, a banda toca e uma criança fica dançando na frente do palco, e aquilo ali me pareceu muito próximo das minhas recordações de vida mais antigas. E sim, eu sei que, no filme, a criança é uma menininha, mas vamos lá.
Dicão do Eduardo Valente, que se firmou como uma das melhores lembranças do Festival. Queria ter revisto, mas não ficou pra repescagem. Além de começar com um poema de João de Deus, é um filme especialmente forte, para mim, por reviver minha infância em cidade pequena, com festinhas parecidas com aquelas, mitologias populares parecidas com aquelas, e bandas de baile parecidas com aquelas. Lá pro final do filme, a banda toca e uma criança fica dançando na frente do palco, e aquilo ali me pareceu muito próximo das minhas recordações de vida mais antigas. E sim, eu sei que, no filme, a criança é uma menininha, mas vamos lá.
4 – A Mulher Sem Cabeça (La Mujer Sin Cabeza) – de Lucrecia Martel A melhor adaptação acidental de Clarice Lispector já feita pro cinema, o fime de Lucrecia Martel parece um híbrido entre O Crime do Professor de Matemática e Amor (dois dos melhores contos de Laços de Família). As comparações com Lynch são acertadas, mas passei o filme pensando em 2046 (e em Brian De Palma), porque a maneira que a Lucrecia Martel trabalha o cinemascope é tão única quanto. E têm aqueles olhos inesquecíveis, em uma inversão da Maria Falconetti de A Paixão de Joana D’Arc, como o Reygadas adoraria ser capaz de fazer. Grande filme.
A melhor adaptação acidental de Clarice Lispector já feita pro cinema, o fime de Lucrecia Martel parece um híbrido entre O Crime do Professor de Matemática e Amor (dois dos melhores contos de Laços de Família). As comparações com Lynch são acertadas, mas passei o filme pensando em 2046 (e em Brian De Palma), porque a maneira que a Lucrecia Martel trabalha o cinemascope é tão única quanto. E têm aqueles olhos inesquecíveis, em uma inversão da Maria Falconetti de A Paixão de Joana D’Arc, como o Reygadas adoraria ser capaz de fazer. Grande filme.
5 – Pai Patrão (Padre Padrone) – de Vittorio e Paolo Taviani Talvez o melhor filme já feito sobre enfiar coisas pontudas em animais.
Talvez o melhor filme já feito sobre enfiar coisas pontudas em animais.
6 – Sad Vacation – de Shinji Aoyama Em breve com crítica na Cinética.
Em breve com crítica na Cinética.
7 – Noite e Dia (Bam gua nat) – de Hong Sang-soo Com crítica minha na Cinética.
Com crítica minha na Cinética.
8 – Na Cidade de Sylvia (En La Ciudad de Sylvia) – de José Luís Guerín Mais do que um belo filme, me parece um filme de belíssimas partes. Curiosamente, o todo não me emociona tanto quanto os momentos individuais. Ainda assim, a parte do café, a edição de som no Les Aviateurs, e aquelas fusões do rosto da Sylvia sobre os trens que correm, ao final do filme, são absolutamente asfixiantes. Queria gostar mais, mas só gosto muito, muito mesmo. Só.
Mais do que um belo filme, me parece um filme de belíssimas partes. Curiosamente, o todo não me emociona tanto quanto os momentos individuais. Ainda assim, a parte do café, a edição de som no Les Aviateurs, e aquelas fusões do rosto da Sylvia sobre os trens que correm, ao final do filme, são absolutamente asfixiantes. Queria gostar mais, mas só gosto muito, muito mesmo. Só.
9 – A Fronteira da Alvorada (La Frontière de l'aube) – de Phillipe Garrel Tem dois momentos absolutamente antológicos:
Tem dois momentos absolutamente antológicos:
1 – Quando Laura Smet adormece, um dos seus seios pende para fora da camisola, e o Louis Garrel vai lá acertar a roupa da moça;
2 – Quando ela cochicha no ouvido dele algo como: “Sabe o que eles dizem nas canções? É tudo verdade”. Melhor fala de todo o Festival.
10 – Segurando as Pontas (Pineapple Express) – de David Gordon Green Com crítica minha na Cinética.
Com crítica minha na Cinética.
11 – Les Amours D’Astrée et de Céladon – de Eric Rohmer Mais do que um filme de época, um filme sobre a representação de um filme de época.
Mais do que um filme de época, um filme sobre a representação de um filme de época.
12 – Cinzas do Passado Redux (Ashes of Time Redux) – Wong Kar-wai Nunca foi dos meus favoritos de Wong Kar-wai, e se manteve razoavelmente igual na revisão. A mexida nas cores tem resultados ora interessantes, ora exagerados demais. Embora exibido em película, a correção de cores digital deixou a cópia final com uma baita cara de vídeo. Tenho curiosidade de saber o que o Chris Doyle (fotógrafo do filme, hoje brigado com Wong Kar-wai) achou do resultado.
Nunca foi dos meus favoritos de Wong Kar-wai, e se manteve razoavelmente igual na revisão. A mexida nas cores tem resultados ora interessantes, ora exagerados demais. Embora exibido em película, a correção de cores digital deixou a cópia final com uma baita cara de vídeo. Tenho curiosidade de saber o que o Chris Doyle (fotógrafo do filme, hoje brigado com Wong Kar-wai) achou do resultado.
13 – Velha Juventude (Youth Without Youth) – Francis Ford Coppola Um filme sobre a história da imagem, desde sua formação física invertida, até à imagem especular de Gilles Deleuze. Gratíssima surpresa, mas seria ainda melhor se não tivesse aquela barriga explicativa que o Coppola se obriga a engolir logo depois da primeira hora. Não fosse aquilo, poderia ser um dos melhores filmes de Alain Resnais.
Um filme sobre a história da imagem, desde sua formação física invertida, até à imagem especular de Gilles Deleuze. Gratíssima surpresa, mas seria ainda melhor se não tivesse aquela barriga explicativa que o Coppola se obriga a engolir logo depois da primeira hora. Não fosse aquilo, poderia ser um dos melhores filmes de Alain Resnais.
14 – Leonera – de Pablo Trapero Martina Gusman possui um magnetismo cinematográfico como eu não via desde Rosane Mullholand, em Falsa Loura.
Martina Gusman possui um magnetismo cinematográfico como eu não via desde Rosane Mullholand, em Falsa Loura.
15 – Na Guerra (De la guerre) – de Bertrand Bonello Para o bem e para o mal, o que acontece quando um cineasta francês se encanta com Mal dos Trópicos, de Apichatpong Weerasethakul.
Para o bem e para o mal, o que acontece quando um cineasta francês se encanta com Mal dos Trópicos, de Apichatpong Weerasethakul.
16 – Aquiles e a Tartaruga (Achilles to kame) – de Takeshi Kitano Em breve com texto na Cinética.
Em breve com texto na Cinética.
17 – A Erva do Rato – de Julio Bressane Cleber Eduardo, alguns dias depois: “Vocês viram que a dublê de vulva do filme se chama Floresta Perpétua?”.
Cleber Eduardo, alguns dias depois: “Vocês viram que a dublê de vulva do filme se chama Floresta Perpétua?”.
18 – Inútil (Wuyong) – de Jia Zhang-ke Um Jia Zhang-ke menor, mas que ainda traz planos incríveis como o casal andando de moto, os garotos andando de bicicleta, e os filhotes de cachorro disputando as tetas da mãe.
Um Jia Zhang-ke menor, mas que ainda traz planos incríveis como o casal andando de moto, os garotos andando de bicicleta, e os filhotes de cachorro disputando as tetas da mãe.
19 – Vocês, Os Vivos (Du Levande) – de Roy Andersson
20 – O Lar (Home) – de Ursula Meier A mais grata surpresa de todo o festival, com texto meu na Cinética.
A mais grata surpresa de todo o festival, com texto meu na Cinética.
21 – Glória Ao Cineasta (Kantoku * Banzai!) – de Takeshi Kitano Já tinha visto em DVD e, com o atraso da cópia, acabei não revendo no Festival. Quando Kitano sacaneia todo o cinema de seus pares (de Wong Kar-wai aos espadachins voadores de Ang Lee e Zhang Yimou), é absolutamente hilário. Fica um tanto auto-indulgente na segunda parte, com altos bem altos, e baixos bem baixos. Kitano anda malucão.
Já tinha visto em DVD e, com o atraso da cópia, acabei não revendo no Festival. Quando Kitano sacaneia todo o cinema de seus pares (de Wong Kar-wai aos espadachins voadores de Ang Lee e Zhang Yimou), é absolutamente hilário. Fica um tanto auto-indulgente na segunda parte, com altos bem altos, e baixos bem baixos. Kitano anda malucão.
22 – Quatro Noites com Anna (Cztery noce z Anna) – de Jerzy Skolimowski Talvez o 23o melhor filme já feito sobre enfiar coisas pontudas nos animais. Com texto meu na Cinética.
Talvez o 23o melhor filme já feito sobre enfiar coisas pontudas nos animais. Com texto meu na Cinética.
23 – O Último Reduto (Dernier Maquis) – de Rabah Ameur-Zaimeche Um filme neo-leninista sobre a força do trabalho, em que o próprio diretor interpreta um vilão chamado Mao.
Um filme neo-leninista sobre a força do trabalho, em que o próprio diretor interpreta um vilão chamado Mao.
24 – Sukiyaki Western Django – de Takashi Miike Outro malucão japonês, que também se equilibra parcamente entre o trabalho apaixonado das referências e um senso de paródia meio aborrecido. Tem bons momentos, mas está longe de se aproximar dos melhores filmes de Miike.
Outro malucão japonês, que também se equilibra parcamente entre o trabalho apaixonado das referências e um senso de paródia meio aborrecido. Tem bons momentos, mas está longe de se aproximar dos melhores filmes de Miike.
25 – Juventude – de Domingos Oliveira Com texto meu na Cinética.
Com texto meu na Cinética.
26 – Sobre o Tempo e a Cidade (Of Time and the City) – de Terence Davies Filme quase sempre bonito, mas nunca realmente arrebatador. Fica ali, naquele espaço morno e nada desagradável, junto com diversas outras maneiras interessantes de se queimar duas horas de vida.
Filme quase sempre bonito, mas nunca realmente arrebatador. Fica ali, naquele espaço morno e nada desagradável, junto com diversas outras maneiras interessantes de se queimar duas horas de vida.
27 – Waltz with Bashir – de Ari Folman Em breve com texto meu na Cinética. Seria ótimo se fosse tão bom de assistir quanto é consciente do que faz.
Em breve com texto meu na Cinética. Seria ótimo se fosse tão bom de assistir quanto é consciente do que faz.
28 – CSNY Déjà Vu – de Bernard Shakey Apesar de todos os graves pesares, ainda assim tem o Neil Young. Com texto meu na Cinética.
Apesar de todos os graves pesares, ainda assim tem o Neil Young. Com texto meu na Cinética.
29 – Sol Secreto (Milyang) – de Lee Chang-dong Uma chatice razoável com alguns planos interessantes. Meu mundo não é tão pesado, e não é sempre que quero assumir o peso do dos outros. Guardo isso pro próximo da Naomi Kawase.
Uma chatice razoável com alguns planos interessantes. Meu mundo não é tão pesado, e não é sempre que quero assumir o peso do dos outros. Guardo isso pro próximo da Naomi Kawase.
30 – Casa Negra (Geomeun jip) – de Terra Shin Com crítica minha na Cinética.
Com crítica minha na Cinética.
31 – Minha Mágica (My Magic) – de Eric Khoo Vou resistir ao ímpeto natural de fazer uma piada com o sobrenome do diretor. O filme não é mais que uma doce nulidade.
Vou resistir ao ímpeto natural de fazer uma piada com o sobrenome do diretor. O filme não é mais que uma doce nulidade.
32 – Ano Unha (Año Uña) – de Jonás Cuarón Com crítica minha na Cinética.
Com crítica minha na Cinética.
33 – Il Divo – de Paolo Sorrentino Em breve com crítica minha na Cinética.
Em breve com crítica minha na Cinética.
34 – Filme Pirata (Kaizokuban Bootleg Film) – de Masahiro Kobayashi Outra chatice com bons enquadramentos, só que em vez do peso desmedido do luto, piadas sem graça sobre Quentin Tarantino e O Poderoso Chefão. O que, de alguma maneira, consegue ser ainda mais chato (só que com mais de uma hora a menos). Antes se reduzisse a um simples clone de Seijun Suzuki.
Outra chatice com bons enquadramentos, só que em vez do peso desmedido do luto, piadas sem graça sobre Quentin Tarantino e O Poderoso Chefão. O que, de alguma maneira, consegue ser ainda mais chato (só que com mais de uma hora a menos). Antes se reduzisse a um simples clone de Seijun Suzuki.
35 – Gomorra – de Mateo Garrone É bastante revelador que, enquanto proposta de denúncia, a única força do filme venha justamente das cenas dos assassinatos. Garrone fez o filme errado.
É bastante revelador que, enquanto proposta de denúncia, a única força do filme venha justamente das cenas dos assassinatos. Garrone fez o filme errado.
36 – Joe Strummer: O Futuro Está Para Ser Escrito (Joe Strummer: The Future is Unwritten) – de Julien Temple Com crítica minha na Cinética.
Com crítica minha na Cinética.
37 – Delta – de Kornél Mundruczó Com crítica minha na Cinética.
Com crítica minha na Cinética.
38 – Paris – de Cédric Klapisch
Além da crítica que escrevi pra Cinética, apresento, aqui, as duas fotos do filme que eu escolhi pra matéria, mas que o Valente achou que eram engraçadas demais.
 39 – Liverpool – de Lisandro Alonso
39 – Liverpool – de Lisandro Alonso Liverpoop.
Liverpoop.
40 – Entre Cães e Deuses (Liu lang shen gao ren) - de Singing Chen
41 – RockNRolla – de Guy Ritchie Com crítica minha na Cinética.
Com crítica minha na Cinética.
42 – O Visitante (The Visitor) – de Thomas McCarthy Um imigrante sírio que, mesmo na casa dos outros, só curte tocar tambor de cueca.
Um imigrante sírio que, mesmo na casa dos outros, só curte tocar tambor de cueca.