domingo, março 30, 2008
Postado por Fábio Andrade às 3:38 AM
Mais uma noite chega, e com ela a depressão
ou
Happiness is all the rage
Nessa minha rotina de interesse por blogs e imprensas particulares, se tem algo que muitas vezes me desanima como leitor é essa mania de opiniadores fazerem do espaço, só por ele ser pessoal, um quadro de avisos para toda sorte de crises e depressões.
Em primeiro lugar, por achar que sofrimento só encontra eco em seu próprio silêncio. Em segundo, por defender, com bandeira em riste, as seis propostas de Calvino: se você quer ser um escritor pesado, é melhor encontrar alguém que seja apaixonado pelo seu peso a ponto de desejá-lo todos os dias. Em terceiro, por achar que essa persona já foi mastigada demais para ainda ter algum sabor. E, em quarto, por acreditar que essa choradeira toda é só falta de rock e cerveja.
Hoje saí com a Clarissa e um ótimo casal de amigos, bebi a ponto de melar a mesa com o derrame de meia tulipa, fui ao banheiro umas quatro ou cinco vezes, e falei muito, muito mais do que devia. Depois voltei pra casa dirigindo, ouvindo I'm From Barcelona e Josh Rouse em volume bem mais alto do que os outros tripulantes gostariam, cantando junto enquanto desviava dos buracos e tentava manter o ponteiro do velocímetro baixo o bastante para alongar um pouco mais a viagem.
Se o peso do mundo tem lá seu atrativo aos dezesseis anos de idade, carregá-lo consigo feito terço (e achar que esse terço é reza para mais alguém) pela vida adulta é coisa de quem ainda acha que o mundo lhe deve alguma coisa. É atalho de quem tem expectativas altas demais para se permitir condensá-las em um copo de desinibição e uma canção boa para se ouvir bem alto. Pode parecer que se contentar com uma canção é pouco, mas não é não. Uma canção é muito. É muito mesmo.
sexta-feira, março 28, 2008
Postado por Fábio Andrade às 3:00 AM
Microfone
O comentário é do Juliano, mas, como ele não usa seu blog como veículo de auto-promoção, e eu não tenho o menor pudor em roubar piada alheia para aparecer pros amigos, faço questão de esticar a falta de vergonha que norteia este espaço para amplificar o comentário:
Por que, Deus meu, por que o tradutor que deu o título brasileiro a I'm Not There não o chamou de Tô Nem Aí?
segunda-feira, março 24, 2008
Postado por Fábio Andrade às 8:39 PM
Sério mesmo
Animado com o fim do recesso (espontâneo!) da placa de som, fui ouvir pela segunda vez a Under The Blacklight, quarto disco do Rilo Kiley. Gosto de uma ou outra música do anterior, More Adventurous, e gosto ainda mais de algumas canções do disco solo de Jenny Lewis, vocalista da banda. Mas quando cheguei à sétima faixa de Under The Blacklight, já podia afirmar com certeza a impressão que a primeira audição tinha deixado subentendida: de todos os discos feitos para serem simpáticos e agradáveis de se ouvir, é muito, muito provável que Under The Blacklight seja o pior de todos eles.
A aparente ironia na escolha de timbres e gêneros datados tenta passar a idéia de que "a gente sabe que isso é ruim, mas olha como conseguimos transformar várias coisas ruins em coisas legais". Até que você percebe que eles não conseguiram não, porque tudo aquilo que sempre foi ruim continua ruim pra caralho. Para quem duvidar (ou só quiser se divertir vendo como algo consegue transgredir todos os limites de mau gosto que você já imaginava há muito superados), basta dar um pulo à página da banda no MySpace. Recomendo começar por "The Moneymaker". Diversão garantida!
Postado por Fábio Andrade às 5:20 PM
Melhores de 2007
07 – The National – Boxer
Dias desses, tomava um chope com um amigo quando ele – em uma daquelas piadas que as pessoas costumam precisar de algumas horas de álcool pra se permitir fazer, mas que eu e meus amigos engolimos mesmo sem a ajuda de um copo d’água – disse que a melhor coisa que o Ian Curtis fez na vida foi se matar, pois só por conta disso o New Order veio a existir. Escondi meu sorriso atrás de um degradé de amarelos porque, no fundo, sua constatação me parecia absolutamente natural. Nunca gostei de Joy Division, pois personalidades como a de Curtis trazem – ao menos à distância – um excesso de bagagem de mão que não estou disposto a ajudar a carregar. O apreço exclusivo pela escuridão e pelo peso da própria mão nunca me encantou, porque me parece, sobretudo, uma maneira simplificadora de se pensar a complexidade. Muito por isso, nunca me interessei pelo Interpol, ou pelos discos que o Radiohead lançou depois de OK Computer.
Para mim, a noite (e aqui faço uso de imagens já um tanto desgastadas mas que, ao meu ver, ainda são as mais eficientes) sempre foi mais interessante como negação pelo contraste, como espaço de negros que a luz pode recortar. Muito por isso, várias das minhas bandas favoritas se tornam marcantes pelo uso do chiaroescuro. A capacidade do Wilco de ir de “A Shot In The Arm” a “When You Wake Up Feeling Old” em um mesmo disco; o contraste das letras de Morrissey com as guitarras de Johnny Marr; a maneira como Billy Corgan conjurava o sol no meio da noite em canções como “Mayonnaise” e “1979” – é esse convívio de antagonismos em um mesmo universo artístico que me encanta, pois parece olhar pro mundo com maior disposição de perceber suas matizes, de assumir a multiplicidade de estados de espírito, de pontos-de-vista, mesmo que esse esforço sirva apenas para o retorno ao seu próprio lugar. Algo que, fora da música, reúne meus favoritos em todas as suas disparidades: Salinger e seu peixe-banana; Mário Quintana com suas praças ensolaradas onde desfilam barcos apinhados de meninos mortos; Christophe Honoré e a discussão cantada ao telefone em Em Paris.
É esse equilíbrio que o National soubera conquistar no estupendo Alligator, e que reaparece em Boxer de forma ainda mais intensa. Pois embora o vocal de Matt Berninger seja mais do que influenciado pelo quase spoken word de Ian Curtis e Leonard Cohen, sua sobriedade intensifica o universo de imagens iluminadas de sua poesia. “Fake Empire”, a primeira canção do disco, é exemplo claro da ambigüidade que faz do National uma banda tão fascinante: assim como um David Lynch, Berminger passa os olhos sobre diversos ícones da americana, mas com uma entonação que se parte entre o encanto e a desconfiança, a superfície e o segundo plano. “Stay out super late tonight / Picking apples, making pies /Put a little something in our lemonade and take it with us / We’re half-awake in a fake empire”, canta Berminger na primeira estrofe, para logo depois adicionar novos tons com “Turn the light out say goodnight / No thinking for a little while / Let’s not try to figure out everything at once / It’s hard to keep track of you falling through the sky”.
Esse misto de euforia e desencanto é essencial para o National, pois suas canções parecem congelar justamente o momento da perda da inocência; o segundo em que o jovem se torna adulto; aquilo que não conseguimos enxergar quando um ambiente escuro é invadido por uma enxurrada de luz. O National canta sobre a pupila que abre e fecha, que tem a chance de enxergar o mundo de uma outra maneira, mas que, quando consegue adaptar os olhos às novas condições de luz, já é tarde demais.
É essa defasagem que norteia o desejo de viver pelos olhos dos amigos em “Green Gloves” (“Get inside their clothes / With my green gloves / Watch their videos, in their chairs / Get inside their beds / With my green gloves / Get inside their heads, love their loves”), que tenta restaurar o passado perdido de um relacionamento em “Start A War” (“Whatever went away I’ll get it over now. I’ll get money, I’ll get funny again”), ou que percebe a impossibilidade de se reconciliar com a juventude em “Mistaken For Strangers” (“Oh you wouldn’t want an angel watching over / Surprise, surprise they wouldn’t wanna watch / Another uninnocent, elegant fall into the unmagnificent lives of adults”). Esse desejo de retorno ao útero se torna ainda mais evidente na estupenda “Slow Show”, em que a vontade de voltar pra casa e entreter a bem-amada se revela sintoma de um retorno maior no último verso da canção (“You know I dreamed about you for twenty-nine years before I saw you”).
Assim como as letras oscilam entre o desejo e a nostalgia, o que faz do National uma banda irresistível é a maneira como a voz de Berninger é não raro acompanhada por explosões de otimismo melódico. “Apartment Story” é como uma nova “Age of Consent”. “Fake Empire” começa amarrando tons menores, para no final se jogar nos vibrantes arranjos de metais. A surpreendente influência de U2 – que já se fazia notar em discos anteriores pelas guitarras de “Secret Meeting” e “Available” – retorna no arranjo final de “Start A War”, lembrando o mergulho dissonante dos últimos minutos de “All I Want Is You”. Existe, na música do National, o gosto pelo balé de climas do Tindersticks e a obsessão por texturas do dEUS, mas a diferença é que a banda saber faz isso sem nunca parecer engordurada, ou buscar esses elementos com afinco suficiente para colocá-los acima das canções.
Porque, no fim das contas, é sobre canções que o National canta. “Hold ourselves together with our arms around the stereo for hours / While it sings to itself or whatever it does / When it sings to itself of its long lost loves”, diz o verso mais marcante de “Apartment Story”. Com Boxer, a banda parece ainda mais próxima da conclusão de que a vida é, de fato, um longo naufrágio. A grande diferença é que, enquanto se afoga, ela parece preferir desviar o valor para tudo aquilo que podemos levar, abraçados, junto conosco para o fundo do rio.
For Dummies
Álbuns do National recomendados em ordem decrescente de interesse:
01 – Boxer (2007)
02 – Alligator (2005)
03 – Sad Songs For Dirty Lovers (2003)
04 – The National (2001)
sábado, março 22, 2008
Postado por Fábio Andrade às 7:46 PM
Cinética
Mais uma volumosa atualização na revista. Dessa vez, fechamos a série de textos retrospectivos sobre o cinema em 2007 com quatro textos. Além de belos ensaios de Cléber Eduardo e Lila Foster, entram dois textos complementares meus. O primeiro chama-se O corpo que ri, e reflete algumas mudanças percebidas na recente comédia norte-americana (em especial Superbad - É Hoje; Ligeiramente Grávido e Antes Só do que Mal Casado). O segundo ganhou o nome de Outros Corpos e faz um novo cruzamento a partir de dois filmes comentados aqui à época do Festival do Rio: Síndromes e Um Século, de Apichatpong Weerasethakul; e Mulher na Praia, de Hong Sang-soo. Fora isso, temos um interessante texto de Eduardo Valente sobre a presença do digital em alguns blockbusters recentes, e outra penca de críticas sobre os filmes em cartaz. Divirtam-se.
quinta-feira, março 20, 2008
Postado por Fábio Andrade às 3:18 AM
terça-feira, março 18, 2008
Postado por Fábio Andrade às 6:06 PM
Coinbag Philosophy
Com a recente greve da minha placa de som, sou obrigado a interromper a publicação dos textos sobre os discos mais legais de 2007 até descobrir exatamente o que está acontencendo (o que significa que essa lista deve se prolongar até 2010). Aproveito a chance para ser espirituoso e registrar mais uma dessas conjuções de astros que eu sempre penso em publicar por aqui, mas desisto por razões mais nobres e inteligentes do que as que me movem no sentido contrário desta vez.
Saindo embasbacado da revisão de I'm Not There (mais do que se tornar ainda melhor, o filme se mostra um bicho completamente diferente da segunda vez), de braços dados com aquele diálogo de um dos Dylans falando pra sua esposa que mulheres nunca saberiam escrever poesia, chego em casa e dou de cara com essa nota de rodapé em um texto de Jean-Jacques Rosseau:
As mulheres, em geral, não gostam de nenhuma arte, não entendem bem nenhuma e não têm nenhum gênio. Elas podem ser bem-sucedidas nos pequenos trabalhos que só exigem leveza de espírito, gosto, graça e, às vezes, até certa filosofia e raciocínio. Elas podem aprender certa ciência, certa erudição, adquirir certos talentos e tudo o que se conquista através do trabalho. Mas este fogo celestial que aquece e abrasa a alma, este gênio que consome e devora, esta ardente eloquência, estes arroubos sublimes que levam sua fuga até o fundo dos corações sempre faltarão aos escritos das mulheres: eles são todos frios e bonitos como elas; terão todo o espírito que quiserem, mas nunca terão alma; seriam cem vezes mais sensatos do que apaixonados. Elas não sabem nem descrever, nem sentir o próprio amor. Só Safo, que eu saiba, e uma outra mulher merecem ser excetuadas. Eu apostaria tudo em que as Cartas Portuguesas foram escritas por um homem. Ora, em toda parte onde as mulheres dominam, seu gosto deve dominar também: e eis o que determina o de nosso século.
Resumindo: obrigado Rosseau por fornecer base filosófica para que eu possa continuar sendo misógino, irracional e contraditório em paz! Sempre soube que Feist, Susan Sontag e Sofia Coppola (e Claire Denis, e Naomi Kawase, e Joni Mitchell, e Norah Jones, mas voltemos à eloquência!) eram mesmo só as exceções que confirmam a regra.
sábado, março 15, 2008
Postado por Fábio Andrade às 1:27 AM
Break
* Mais impressionante do que ver um dos melhores filmes dos últimos anos sair no Brasil direto em DVD, só encontrá-lo já sendo vendido por 9 reais na Americanas. Exilados (2006) marcou meu primeiro encontro com o cinema de Johnnie To, em uma exibição tapa-buraco do Festival do Rio daquele ano, recomendada na última hora pelo Juliano. À época, sequer sabia estar diante da conclusão de uma trilogia iniciada em 2005 com Eleição, e seguida no ano seguinte com Eleição 2 (todos hoje já disponíveis em DVD no Brasil). Pouco importou: logo nos primeiros minutos ficou claro que o trabalho de To - nesse filme, em especial - me arrebataria por sua capacidade de criar imagens absolutamente pregnantes, de recompor o quadro mesmo quando tudo parece ter virado vapor, de reconfigurar visualmente um universo (os filmes de máfia) já triturado pelas revoluções recentes de John Woo e Takeshi Kitano.
Revendo Exilados em DVD, as impressões se intensificavam à medida que eu percebia ter - naquele único contato com o filme, dois anos antes - memorizado sua cadência, sua construção visual, o sangue em pó que enevoa as sequências noturnas, toda a distensão temporal dos plongés do primeiro duelo. Embora pese levemente nos pretos, a cópia em DVD faz as devidas honras à milimétrica composição em scope do filme (em um bom transfer anamórfico) e ao banho de cores da fotografia ultra-estilizada de Cheng Siu Keung. Exilados é mais que um filme essencial; é, provavelmente, o Era Uma Vez no Oeste da nossa geração.
* A Cinética está com edição nova e recheadíssima no ar. Além de uma enxurrada de críticas dos filmes em cartaz, a revista traz uma primeira pauta conjunta pensando os caminhos do cinema norte-americano nos primeiros meses de 2008. Assino crítica sobre Juno e um ensaio sobre a presença das cores nos filmes de Tim Burton.
* A revista eletrônica norte-americana Mammoth Press publicou uma generosíssima resenha da demo do meu Driving Music. Estou boiando em meu próprio orgulho.
segunda-feira, março 10, 2008
Postado por Fábio Andrade às 4:45 PM
Melhores de 2007
08 – New Pornographers – Challengers
Se o Maritime surgiu com status de superbanda, o que falar do New Pornographers? Formado por toda sorte de micro estrelas da cena indie de Vancouver (Neko Case, Dan Bejar, Carl Newman, John Collins, etc), o New Pornographers nunca me pareceu mais do que um projeto de pesquisas formais realizado por um grupo de artistas em pleno domínio de seu ofício, mas onde o desejo de compor canções memoráveis era substituído por uma abordagem mais transversal da música pop, desmontando convenções para construir seqüências melódicas mais inusitadas e grafar imagens nascidas em universos extremamente particulares. A questão é que o resultado em disco acabava sempre muito próximo ao de se ouvir uma palestra: pinçamos coisas interessantes dali, mas que, pensando em relação com o todo, só se tornavam notáveis pela reverberação em sua própria redundância. Apesar de polvilhados com momentos notáveis, os discos do New Pornographers sempre me pareceram um tanto enfadonhos. Seu trabalho de construção melódica, embora intelectualmente instigante, nunca parecia orgânico como no Smoking Popes ou no Pixies – chegar perto dos Beach Boys, até aqui, nem pensar. Até Challengers, ao menos.
O último álbum da banda já começa deixando muito clara uma mudança de postura: embora a construção em plumas de “My Rights Versus Yours” tenha suas ambições “acadêmicas” condensadas em sua mistura de Left Banke e Beach Boys (enfim!), esse interesse pela estrutura é revertido em nome da canção. Fica evidente, nessa primeira canção, o novo direcionamento que já era esboçado em Twin Cinema: as referências da banda não são mais a new wave e o synth pop dos anos 1980, como nos dois primeiros discos, mas sim o rock e a psicodelia das décadas de 1960 e 1970. O vocal escala a escala com uma fluidez tão impressionante que passa de uma oitava a outra sem que a necessidade do falsete pareça forçada ou vaidosa. A ambição estrutural dos New Pornographers é ressaltada em um verso da extraordinária letra da canção (“Complex notes inside the chords / On every wall inflections carved / Deep as lakes and dark as stars / Remember we were the volunteers”), ressaltando que o jogo formal dará espaço a uma fuga existencial mais sólida.
Em vez do desafio matemático, que norteava os álbuns passados da banda, temos frases belíssimas em um horizonte imaginário onde o desfile de imagens oníricas se completa em preciosidades como “You left your sorrow dangling / It hangs in air like a school cheer” ou na “mirage of loss” que já me fizera jorrar reverências quando publiquei, aqui, minha coletânea de grandes canções do ano. Mais do que uma indicação dos caminhos tomados para Challengers, “My Rights Versus Yours” é uma canção que evidencia, em sua própria escritura, as decisões formais tomadas pela banda. Saímos das bandeiras agitadas pelo formalismo dos discos anteriores e ganhamos um império em farrapos; a verdade em uma tarde livre.
“All the Old Showstoppers”, a seguinte, busca inspiração no Kinks (fase Lola vs. the Powerman) e – com os oooohhhs, e com as guitarras mimetizadas pelos arranjos de cordas – indica muitos dos terrenos por onde a banda transitará nas faixas seguintes. “Challengers” leva à perfeição as canções reservadas para a voz de Neko Case, mas que antes costumavam se afogar em harmonias desconjuntadas como em “The Bones of an Idol” (do anterior, Twin Cinema). Aqui, o reverb da guitarra de notas solteiras ressalta o passeio guiado do violão, em uma distribuição melódica tão coerente e assimilável quanto surpreendente em seus contratempos. Mais que isso, a faixa que dá nome a Challengers vem consolidar uma impressão já enunciada em “My Rights Versus Yours”: a organicidade melódica buscada nas referências do passado é espelhada em uma relação orgânica com o mundo natural que tomará as melhores letras do disco. Em “My Rights Versus Yours” era a verdade da tarde livre; em “Challengers” é o casal que desafia o desconhecido metaforizado pelo nascer do dia. “Yes I know it was late / We were greeting the sun / Before long”, começa a canção, para depois passar para “On the walls of the day / In the shade of the sun / We wrote down / Another vision of us / We were the challengers of the unknown”. A solidificação da volatilidade do espírito na camada de aparência mais física do mundo (manhã-tarde-noite) é metáfora preciosa para a música encontrada em Challengers, pois a relação linear com o tempo dos discos anteriores (canções pensadas um acorde após o outro, sem a intenção de criar, com isso, blocos melódicos coerentes) é trocada por uma relação mais precisamente circular (as canções estruturadas em partes – verso-ponte-refrão – como o tempo se estrutura em atos de luz – manhã-tarde-noite).
“Myriad Harbour”, a próxima faixa, aperfeiçoa uma operação vocal à Broadway – rua mencionada literalmente na canção – que a banda já apresentara no passado em “Jackie, Dressed In Cobras” (também de Twin Cinema) ao aproximá-la da reconstrução melódica promovida pelos Pixies. Os riffs de violão e guitarra solo são, claramente, recortados da cartilha de Joey Santiago, mas o vocal de Bejar é entrecortado pelos parênteses de Newman e Neko Case em dinâmica de musical, em um passeio pelos fascínios noturnos de Nova York. O dia segue em seu giro (“See just how the sun sets in the sky”), mas é nas imagens abandonadas pela noite que “Myriad Harbour” encontra seus grandes momentos: “All the boys with their home-made microphones / Have very interesting sounds / All the girls falling to ruin, dropping out of school, breakin' daddy's heart / Just to hang around”. A perfeita integração do corpo melódico com um universo de imagens capturadas pela retina nos relances de uma caminhada pela cidade fazem de “Myriad Harbour” uma das melhores canções de Challengers, e, conseqüentemente, da carreira dos New Pornographers.
“All the Things That Go to Make Heaven and Earth” flerta com o bubblegum (desvio de olhar que já rendera as ótimas “All For Swinging You Around”, de Electric Version, e “Letter From An Occupant”, de Mass Romantic), mas adiciona progressões melódicas de Doors à sua base ramônica – se os Ramones incorporassem tantas notas e mudanças de andamento às suas canções. “Failsafe” retoma algumas das imagens de “My Rights Versus Yours”, mas, musicalmente, é a continuação de “All the Old Showstoppers”, trancando as horas (a relação com o tempo volta a aparecer) com mais um par de versos geniais (“Signing a check with a name that’s not mine”). O retorno à noite em “Unguided” é movido pelo elemento que perturba a ordem no belo refrão da canção (“Something unguided in the sky tonight”) – que ainda traz verso capaz de resumir toda a insegurança que alimenta o amor (“You chased the spotlight into her arms”).
É impressionante como, embora a maior parte do disco seja composta/cantada por Carl Newman, as canções de Dan Bejar – com sua métrica sempre estranha – trazem não só perspectivas melódicas diferentes, como também os melhores riffs de Newman – em uma concentração de talento que a divisão entre o instrumento e o vocal principal parecia inibir. É o caso de “Myriad Harbour”, mas também de “Entering White Cecilia” e “The Spirit of Giving” – as outras duas canções de Bejar em Challengers. Se “Entering White Cecília” não traz versos inspirados como “Myriad Harbour”, “The Spirit of Giving” traz momentos de iluminação como “And remember the wolves that you run with are wolves / Don't forget they exist to give you something to regret / I'll beat them to it / With something sadder than that brass portrait that shines through your morning din”. A canção fecha o disco em clima mais sereno, ainda mais por se colocar após “Adventures In Solitude” – estupenda concentração de doçura composta por Newman, com direito a uma grandiosa entrada vocal de Neko Case após um solo de banjo singelamente marcante.
Challengers marca a entrada na maturidade de uma banda até então encantada demais com seus próprios dispositivos, com as possibilidades formais de seu próprio ofício. De todos os discos do New Pornographers, é o primeiro que me parece ser, do início ao fim, tomado por música boa de se ouvir, sem com isso perder o saudável levantar de sobrancelhas que seu passado angular trazia consigo. Sem nunca desviar de sua busca por caminhos menos explorados em universo limitado por escalas e convenções, os New Pornographers parecem encontrar, enfim, uma maneira de converter essa inquietação em canções de fato extraordinárias e fazem, com isso, seu primeiro grande disco.
For Dummies
Álbuns do New Pornographers recomendados em ordem decrescente de interesse:
01 – Challengers (2007)
02 – Mass Romantic (2000)
03 – Twin Cinema (2005)
04 – Electric Version (2003)
sexta-feira, março 07, 2008
Postado por Fábio Andrade às 3:37 PM
quarta-feira, março 05, 2008
Postado por Fábio Andrade às 5:18 PM
Melhores de 2007
09 – Maritime - Heresy & the Hotel Choir
O Maritime poderia ser uma banda fadada a repousar eternamente na sombra do passado de seus integrantes. Montado como um supergrupo de power pop, o então trio (hoje quarteto) se formou das cinzas de grupos influentes como The Promise Ring (Davey Von Bohlen – vocal e guitarra – e Dan Didier – bateria) e Dismemberment Plan (Eric Axelson – baixo) e, algumas mudanças de formação depois, hoje ainda não consegue passar por uma resenha sem uma introdução biográfica como essa.
Glass Floor, o primeiro disco da banda, parecia adicionar sorrisos ao vácuo deixado por Wood/Water – último disco do Promise Ring – colorindo a delicadeza à Belle & Sebastian buscada pela banda em sua fase final com o otimismo da paternidade recente. We, the Vehicles, de 2006, mereceria um lugar na minha lista de discos daquele ano se a mudança na sonoridade não tivesse me assustado tanto. Era como, de um disco para outro, o Maritime decidisse saltar da varanda e rumar para o espaço, e ver uma pessoa levantar vôo na sua frente não é experiência muito fácil de se absorver. Onde antes tínhamos violões e arranjos de cordas e metais, We, the Vehicles trazia guitarras atmosféricas, reverbs e teclados precisamente econômicos. Saíamos de um disco que refletia os laranjas do sol de outono e rumávamos para alguma esquina da noite, celebrando o silêncio da cidade e a possibilidade de respirar só encontrada em avenidas vazias. Canções que, num primeiro momento, me lembravam Coldplay e Death Cab for Cutie, aos poucos revelavam lugares muito mais particulares, e iluminavam a sonoridade noturna de We, the Vehicles como um momento muito mais especial do que o alcançado em Glass Floor.
Mas qual não seria minha surpresa ao acompanhar o Maritime no seu passo seguinte e perceber que Heresy & the Hotel Choir¸ o terceiro da banda, é um disco de rock! Do pôr-do-sol indireto de Glass Floor¸ passeamos pela noite em We, the Vehicles para, enfim, ver o dia nascer novamente em toda sua fúria no disco seguinte. “Guns of Navarone”, a extraordinária faixa de abertura, vai buscar em Strokes (a fase boa, claro) a paixão pelas estradas sem curvas, nos conduzindo por planícies de três acordes e bumbos que evitam contratempos. “For Science Fiction”, o primeiro single do disco, combina um refrão gigantesco (“I want to thank god for the science fiction / For the benediction, and the contradiction that all our souls are saved”) com baixo e bateria marcadamente sincopados, erguendo as bases para que os sintetizadores possam transitar livremente.
Se Von Bohlen fez o Promise Ring famoso com sua inabilidade vocal e o Maritime o desafiava trazendo sua voz para frente da banda, em Heresy ela volta a dividir espaço com as guitarras altas e a bateria mais solta e faladeira. Em alguns momentos, a limitação vocal de Von Bohlen é tão evidente quanto charmosa (os refrões de “Love Has Given Up”, por exemplo, e “Hand Over Hannover” – canção de frases fortes como “Honestly, we lie through our teeth” e “You can rent your life to death / Window-shopping high / Across the borrowed sky”), trazendo para o Maritime uma espontaneidade que Von Bohlen parecia auto-conscientemente evitar desde Nothing Feels Good. Até mesmo em “Aren’t We All Found Out”, canção que lembra a fatia leve da banda, melhor representada por “We Don’t Think, We Know” (de We, the Vehicles), encontra na curto alcance da voz de Von Bohlen ressonância maior para uma das estrofes mais fortes do disco (“In the wave of car alarms, windows, doors and broken arms / We don't need any food, it harms us, everything we do / Yea my hands are sensitive, if I move my legs will surely give / I can't get away from how you touch me”).
Isso não significa, porém, que Heresy & the Hotel Choir perca o fôlego em sua pressa. “Pearl” é uma das melhores e mais arejadas faixas do disco, trocando as guitarras esmurradas por arpejos delicados sobre o andamento firme de baixo e bateria, buscando inspiração na dinâmica interna que fez do U2 uma das maiores bandas do mundo (e mais uma vez temos ao menos um grande verso de Von Bohlen em “Here completely. it beats me, keeps me and leaves me like a love”). “Be Unhappy” é outro bom momento onde a urgência é substituída por uma construção climática mais esburacada. O surpreendente é que, independente do caminho escolhido para cada uma das canções, em Heresy & the Hotel Choir o Maritime parece sempre encontrar maneiras de fazer tudo funcionar. Seja em baladas acústicas como “First Night On Earth” ou em canções sem freios como “Love Has Given Up”, a banda faz tudo parecer absolutamente orgânico e natural. Como os grandes escritores, faz o difícil parecer fácil. E isso já é, sem dúvida, feito que garante ao Maritime umas horinhas diárias de banho de sol.
For Dummies
Álbuns do Maritime recomendados em ordem decrescente de interesse:
1 – We, the Vehicles (2006)
2 – Heresy & the Hotel Choir (2007)
3 – Glass Floor (2004)
* * *
Aqueles sentindo falta de meus resmungos cinematográficos podem ler críticas minhas sobre Sangue Negro e Marock na Cinética.
terça-feira, março 04, 2008
Postado por Fábio Andrade às 9:19 PM
segunda-feira, março 03, 2008
Postado por Fábio Andrade às 12:15 PM
Melhores de 2007
Discos
É curioso como, fazendo esses balanços gerais de fim de ano (que aqui se estendem por alguns meses do ano seguinte), chegamos a impressões conjunturais que, por vezes, passam despercebidas no presente dos acontecimentos. Em 2006, enquanto os cinco primeiros lugares da minha lista de filmes traziam os adornos em ouro característicos das obras-primas, minha lista de discos transitava por álbuns interessantes, mas nunca exatamente perfeitos. Já em 2007, a coisa toda se inverteu: se, no cinema, a única obra irretocável chegou por aqui na despedida do ano, as primeiras posições dos álbuns foram decididas logo nos primeiros meses.
Mais difícil, portanto, seguir fingindo que essa lista tem pretensão de salvar os melhores, em vez daqueles que, simplesmente, me dão vontade de escrever sobre. Por esse motivo, ficarão de fora discos reveladores de artistas com quem demorei a roçar cotovelos, como Spoon, Band of Horses e LCD Soundsystem, além de gratas descobertas, como Andrew Bird, Bishop Allen e Beirut. Como o catálogo de lançamentos nacional é restrito e, no primeiro ano em que não comprei legalmente nenhum dos discos da minha lista, absolutamente irrelevante, o recorte é feito seguindo as datas de lançamento oficiais do AllMusic. Por esse motivo, bons discos lançados nos EUA em 2007 ficam de fora. É o caso do belo – mas, a essa altura, bem esburacado pelo tempo – segundo disco da Amy Winehouse e do segundo, e muito melhor, álbum dos Magic Numbers – ambos com a primeira data de lançamento oficial ainda em 2006. Fora isso, entre excluídos, só os hypes que não souberam me fisgar em poucas audições (Animal Collective, Panda Bear, Radiohead e outros pitchforkistas) e alguns dos favoritos que lançaram trabalhos pálidos em 2007 (Ben Lee, Foo Fighters e Ryan Adams). Destaque tristemente inevitável para o desastroso álbum de retorno da minha banda favorita: Zeitgeist, do Smashing Pumpkins, é tão insosso que me deixa com muita, muita saudade do Zwan.
10 – Josh Rouse – Country Mouse, City House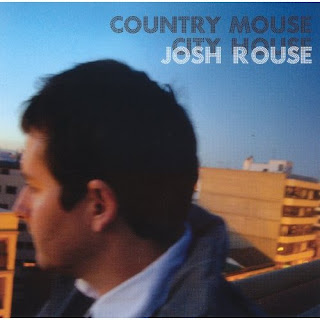
e She’s Spanish, I’m American 
É bastante significativo, para a compreensão do critério dessa lista, saber que a inauguro com um álbum que, de certo modo, poderia ser alocado entre as decepções. Por outro lado, me parece desonesto começar de outra maneira que não por quem, em 2007, saiu do nada, para o topo da minha lista de mais ouvidos do Last.FM. Josh Rouse talvez seja o artista que melhor sintetize uma relação de apropriação livre com a cultura pop que me parece muito marcante nesse momento. Não existe território proibido para suas canções, que, com a mesma naturalidade, saem do indie rock (“Late Night Conversation”) para a disco (“Giving It Up”); de Carole King (“1972”) a Smiths (“Winter In The Hamptons”); do piano (“Sad Eyes”) às cuícas (“His Majesty Rides”); da voz e violão (“El Outro Lado”) ao dueto (“The Man Who Doesn’t Know How To Smile”). Nesse desafio de inventariar e atualizar toda a música pop, Rouse tem como característica a capacidade de aparar todas as contra-indicações e marcas do tempo de seus ambientes originais. Muito por isso, seu salto para o posto de artista que mais ouvi em 2007 foi tão natural quanto imperceptível: Josh Rouse é tão agradável de se ouvir justamente por não trazer contra-indicações.
O problema é que, mais cedo ou mais tarde, essa ausência de contra-indicações pode se tornar a sua grande contra-indicação. Assim como Rouse é capaz de invocar os Bens (Lee, Kweller e Folds) sem os excessos de esperteza muitas vezes irritante dos originais (pensemos em quase todo o último disco do Ben Lee), ou de recuperar melodias do Abba sem a grossa camada de poeira que cobre os suecos, ao mesmo tempo seus passeios pela discografia do Smiths não trazem a refinada ironia de Morrissey, como sua inclinação country não vem acompanhada da coragem de um Dylan. Em uma definição clássica, mas aqui bastante efetiva, Rouse seria um artista interessado pelo craft, pelo aspecto estrutural das canções pop. Em vez de psicografar melodias e palavras, Josh Rouse – como um Ryan Adams – parece enxergar os acordes e convenções como peças em um jogo de encaixe onde a meta é sempre a canção pop perfeita.
A questão é que, quando bem sucedido, esse jogo chega a feitos extraordinários; mas, quando mal encaixado, ele se torna francamente insípido. É o caso de algumas das canções de Country Mouse, City House – e o fato de Rouse ter trocado o trabalho extensivo pelo intensivo, lançando discos com uma periodicidade notável, mas sempre com poucas faixas, amplia essa sensação. Enquanto “Sweetie” abre o álbum com uma admirável mistura de temperos de diferentes locais (a lap steel guitar do Tennessee, local imortalizado por Rouse em seus discos passados, e la-la-las em progressão por menores que podem, facilmente, ser atribuídos à sua mudança para a Espanha). “Italian Dry Ice”, porém, desestabiliza um álbum logo na segunda faixa – mais por ter sido pessimamente posicionada no início do álbum, do que pela discrição de seu brilho.
Country Mouse, City House se divide entre canções que não funcionam muito bem (“Italian Dry Ice”, “God, Please Let Me Go Back” e “Pilgrim”), e outras onde Rouse passa por terrenos já pisados, mas sempre marcados por seu talento. Pois se a inquietação formal do artista parecia corresponder à migração constante de sua vida pessoal, o segundo disco de Rouse gravado na Espanha é tomado por um conforto e uma serenidade inéditos em sua obra. Mesmo em suas melhores canções, Country Mouse, City House deixa de buscar novas moradias possíveis, e prefere aprimorar pesquisas já indicadas em canções anteriores. A extraordinária “Hollywood Bass Player”, por exemplo, resgata a base do refrão de “It Looks Like Love” (de Subtítulo) para, sobre os mesmos acordes, construir uma linha melódica ainda mais marcante. “Nice To Fit In” resgata uma urgência perdida desde a obra-prima Nashville, enquanto o expressivo delay vocal em “London Bridges” faz com que a primeira parte da canção pareça cantada pela voz da própria consciência do personagem que pede para ser visto como mais que uma ponte.
Se as fraquezas de Country Mouse, City House ficam mais evidentes por tomarem uma porcentagem maior do que normalmente encontramos em sua obra (é um disco de apenas 9 músicas), felizmente 2007 também nos trouxe o belíssimo ep She’s Spanish, I’m American. Gravado em parceria com a namorada Paz Suay (cantora que motivara a mudança de Rouse para a Espanha, e que já havia emprestado sua voz à belíssima “The Man Who Doesn’t Know How To Smile”, de Subtítulo), o ep parece deixar claro que o caminho mais frutífero da jornada de Rouse pelo velho continente é mesmo o do coração. Trocando a pesquisa formal pelas páginas de um diário, as cinco canções de She’s Spanish, I’m American trazem de volta a vitalidade mal trocada pela calmaria de Country Mouse¸ passeando, aqui, por caminhos que o compositor ainda não esgotara.
Marcam o compasso saltitantemente funkeado de “Car Crash” (uma das melhores canções de Rouse), as camadas de sintetizadores e tremolos de “Jon Jon”, o vocal-vento de Paz Suay em “The Ocean Always Wins”, a melodia morosamente flutuante de “These Long Summer Days” (em um momento onde a sonoridade dos instrumentos parece capturar as intenções da letra com precisão espantosa) e o marcante trabalho de programações (abandonadas por Rouse desde Under Cold Blue Stars) de “Answers”. Somadas ao que Country Mouse, City House tem de melhor, as cinco canções de She’s Spanish, I’m American afastam todas as dúvidas de que Rouse ainda é dos compositores mais confiáveis que o mundo (pois ele é, definitivamente, cidadão do mundo) tem a oferecer, e que sua jornada pela música pop pode se tornar mais interessante à medida que o interesse pelo universo do outro passa a ser substituído por um olhar para dentro de si.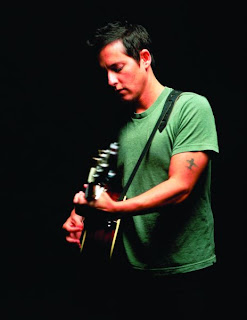
For Dummies
Álbuns de Josh Rouse recomendados em ordem decrescente de interesse:
1 – Nashville (2005)
2 – Subtítulo (2006)
3 – Under Cold Blue Stars (2002)
4 – 1972 (2003)
5 – Dressed Up Like Nebraska (1998)
6 – Country Mouse, City House (2007)
7 – Home (2000)







